“África” no Brasil: um nome, múltiplos sentidos
Em artigo, autor defende a necessidade de combater a noção que reduz o continente a um "país" genérico
Por Ronaldo Lima Vieira*
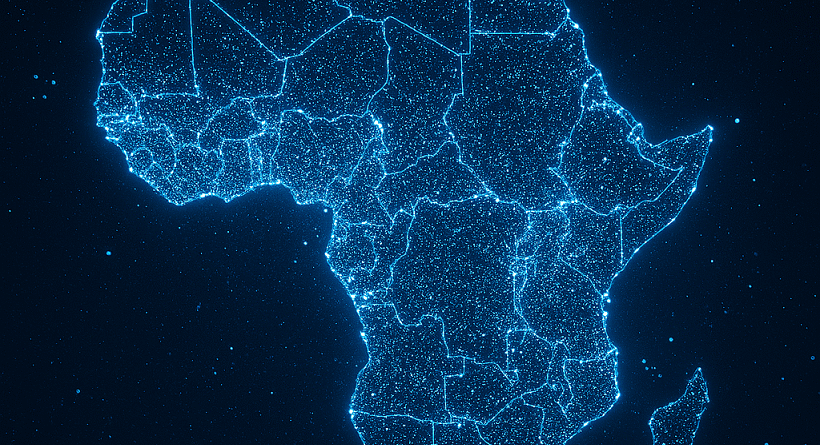
Novembro Negro é um convite à escuta profunda. É tempo de pensar a negritude brasileira e a africanidade brasileira como dimensões complementares e, ao mesmo tempo, distintas, mas nunca sinônimas. Uma fala da experiência da brasilidade negra; a outra, da inscrição histórica, cultural e política dos diversos povos do continente africano em nós. Novembro Negro é uma oportunidade, também, de pensarmos a branquitude. Afinal, como lembra Cida Bento, em O pacto da branquitude, e Lilia Schwarcz, em Imagens da branquitude, a questão negra só existe porque ela foi forjada pela questão branca – pela forma como a branquitude se construiu como norma, poder e privilégio ao longo da formação histórica do Brasil. E aqui cabem algumas provocações: há validade em tratar a “negritude” e a “africanidade” como sinônimas? As formas como nossos familiares pensavam sobre a África ainda fazem sentido no século 21, ou já é hora de conhecer (e aceitar) a realidade africana em sua complexidade – ou melhor, as múltiplas realidades africanas?
Talvez seja hora de sairmos do lugar-comum, da zona de conforto e expandirmos nossos horizontes. Ou será que “corre em nossas veias o sangue velho dos avós”, como disse o poeta? Que brasileiro, de viagem marcada para algum país africano, ou estrangeiro africano no Brasil, não deparou com o seguinte diálogo: Personagem A: “Cara, semana que vem eu vou viajar pra Guiné”. Personagem B: “Guiné? Mas onde é isso?” Personagem A: “Na África”. “Personagem B: Ahhh, na África… então você vai para a África? Eu tenho uma amiga africana. Personagem A: “De onde?” Personagem B: “ora, da África!”
Como ponto de partida, vale consultar o dicionário. África é o terceiro maior continente do planeta, composto de 54 países internacionalmente reconhecidos, vastos arquipélagos e realidades regionais muito diversas – do Magrebe ao Sahel, do Chifre da África ao Golfo da Guiné, do Vale do Nilo à cidade do Cabo. É espaço geográfico e político, com histórias milenares e modernas, cosmologias, línguas, formas de organização social e expressões artísticas que não se deixam reduzir a uma unidade homogênea. Esse topônimo carrega, ao mesmo tempo, um lugar físico, uma pluralidade histórica e um campo de disputas de sentido. Sentido disputado, diga-se de passagem, porque há funcionalidades no seu emprego.
No Brasil, “África” é um discurso fundador. O nosso país não existiria sem o trabalho, o saber e a resistência de milhões de africanos e seus descendentes, arrancados de múltiplas sociedades ao longo do período escravocrata. Em nossa língua, na culinária, nas religiosidades, nos ritmos, nas artes da convivência e nas formas de luta política, a diversidade africana estruturou o que chamamos de Brasil. Reconhecer essa fundação não é apenas um ato de justiça histórica: é condição para compreender a sociedade brasileira – seus conflitos, suas potências e seus impasses. É também condição de internacionalização do Brasil no século 21. É a partir do seu (re)conhecimento que as possibilidades internacionais frutificarão.
A “África” também ocupa um espaço simbólico no imaginário nacional: ora aparece como espelho identitário, ora como alteridade distante, ora como mito de origem, ora como sinônimo de exotismo, ora como lugar a ser explorado, ora como lugar de pobreza e miséria. É o nome que está presente na festa e na fé, na música e na moda, mas também o que surge na piada fácil e na manchete apressada. Nesse campo simbólico, convivem reconhecimento e estereótipo, celebração e caricatura. É nesse entremeio que precisamos cuidar dos sentidos.
O Brasil não existiria sem o trabalho, o saber e a resistência de milhões de africanos e seus descendentes, arrancados de múltiplas sociedades ao longo do período escravocrata.
Ao longo de nossa história, o termo “África” tem sido muitas vezes reduzido: a um “país” genérico, sem capital; aos orixás, como se o continente fosse apenas religiosidade; a um “lugar de pretos”, esvaziado de cidadania; à ancestralidade brasileira, como se fosse apenas passado; à pobreza, como se fosse destino; a um “não lugar”, sem história, sem ciência, sem Estado. Cada representação tem um sentido social: o “África-país” simplifica; “África-orixás” recorta o sagrado e apaga a política; “África-lugar de pretos” racializa como menoridade; “África-ancestralidade” museifica; “África-pobreza” justifica desigualdades; “África-não lugar” legitima hierarquias. O que se discute aqui não é o fato de as referências serem negativas ou positivas, verdadeiras ou falsas; o que se quer problematizar é o uso político que as instrumentaliza e a ideologia que as carrega. Não seriam cruéis os usos semânticos reducionistas em prol de uma justificativa legitimadora das ações cometidas contra povos e territórios africanos? Ao que parece, a história já nos mostrou a que servem os reducionismos quando o assunto é África: dominação e poder.

Essas simplificações são históricas. Foram forjadas e ritualizadas para desqualificar africanos e seus descendentes (embora nem todos, mas aí é tópico para outra conversa), garantindo o uso social de um capital humano que sustentou o período colonial e suas continuidades. O colonialismo do poder dependeu da “conversão” de diferenças em desigualdades e de desigualdades em naturalizações, da redução fatorial semântica de um continente megadiverso a um país sem organização política, sem centro, sem cérebro, sem nada: a “falta” de África justificaria a tutela, o mando, a exploração. Esse repertório perdura porque foi escolarizado, midiatizado e institucionalizado – por isso, é tarefa nossa desmontá-lo, ou ressignificá-lo.
A “África” também ocupa um espaço simbólico no imaginário nacional: ora aparece como espelho identitário, ora como alteridade distante, ora como mito de origem, ora como sinônimo de exotismo, ora como lugar a ser explorado, ora como lugar de pobreza e miséria.
Uma rápida busca pela internet mostra a recorrência de uma relação desejada pelo Brasil: o interesse brasileiro em criar mercado para produtos nacionais no continente africano. A África, em valores agregados, revela números impressionantes: o continente tem um PIB nominal estimado entre US$ 2,8 e 2,9 trilhões, o que representa aproximadamente 2,5% da economia global. Sua população já ultrapassa 1,55 bilhão de pessoas, quase 19% da população mundial, e projeta-se que alcance cerca de 4 bilhões de habitantes até o fim do século, quando se tornará um dos maiores mercados consumidores do planeta.
No campo agrícola, embora apenas 6% das terras estejam ocupadas por culturas permanentes, a África concentra vastas áreas agricultáveis e já atraiu mais de 134 milhões de hectares de investimentos estrangeiros na primeira década do século 21. Além disso, o continente detém cerca de 30% das reservas minerais globais e é um dos maiores polos de produção de petróleo e gás. Esses dados, desgraçadamente agregados, mostram que a África é simultaneamente um gigante demográfico, um celeiro agrícola e um ator estratégico na geopolítica mundial.
As cifras atuais e projeções futuras brilham os olhos de comerciantes, fabricantes e investidores, que veem ali um mercado de consumo e um espaço de produção de riqueza. Mas é preciso lembrar que outros países também disputam essa fatia. Aprofundar relações comerciais exige mais do que entusiasmo: requer habilidade para promover produtos e, sobretudo, para conhecer o freguês. Ou seria melhor dizer, conhecer os fregueses? Afinal, não há um consumidor africano genérico, mas múltiplos públicos, culturas e hábitos de consumo. Sem esse conhecimento, o risco é repetir reduções e perder oportunidades. Em verdade, é preciso desagregar os dados.

Os exemplos estão no nosso vocabulário corrente: “Fórum Brasil-África”, “Religião da África”, “Relações Brasil-África”, “Memórias da África”, “Diálogos com a África”, “Dívida Histórica do Brasil com a África”. São títulos úteis, mas reducionistas. “Brasil-África” apaga que há muitos brasis e muitas áfricas; “Religião da África” mistura matrizes iorubás, bantus e outras num bloco único; “Relações Brasil-África” sugere um eixo binário e desfaz regionalidades e agendas setoriais; “Memórias da África” reduz e congela o continente num passado, muitas vezes mítico; “Diálogos com a África” invisibiliza quem dialoga com quem, sobre o quê, e com quais instituições. É possível nomear melhor sem perder a síntese: o acréscimo de precisão é, antes de tudo, um acréscimo de respeito; a precisão é uma ferramenta preciosa para a efetividade brasileira nas interações com diversos países africanos.
A indústria cultural internacional também tem culpa nesse engodo do uso do termo “África”. Reforçou e ainda reforça essas naturalizações reducionistas e imprecisas, deslocadas e preconceituosas. Hollywood construiu um imaginário em que África é cenário de aventura, perigo, salvamento ou catástrofe: pense em séries de exploração tipo Indiana Jones, em romances coloniais como Out of Africa, em narrativas de conflito e extração como Diamantes de sangue, ou mesmo em animações como o popular O rei leão, que estetizam o “selvagem”. Ainda que alguns filmes tragam críticas e tenham finalidades propositivas, o padrão dominante reduz o continente a paisagens e dramas sem agência africana. Esses produtos culturais sedimentam, no senso comum, o atalho mental: “África” como pano de fundo, não como sujeito.
É possível nomear melhor sem perder a síntese: o acréscimo de precisão é, antes de tudo, um acréscimo de respeito; a precisão é uma ferramenta preciosa para a efetividade brasileira nas interações com diversos países africanos.
Proponho formas substitutivas e mais cuidadosas. Primeiro, distinguir “África” de “continente africano”: “África” pode remeter a uma constelação histórica e cultural ampla, enquanto “continente africano” delimita espaço geopolítico; usar o segundo quando o tema é territorialidade, instituições e integração regional ajuda a evitar confusões. Dizer “políticas no continente africano” é diferente de “políticas na África”, que pode abranger dimensões diaspóricas, ou mesmo evocar estéticas e histórias para além da geografia simbólica e mítica.
Segundo, nomear países e regiões, em vez de subsumi-los sob um termo genérico. Em vez de “parceria com a África”, dizer “parceria com Gana e Nigéria no setor de energias limpas”; no lugar de “música africana”, “semba angolano, highlife ganês, afrobeat nigeriano, marrabenta moçambicana”; em políticas públicas, falar de “cooperação com a África Austral” ou “com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental”, quando for o caso. Precisão geográfica e cultural qualifica a conversa e impede reducionismos.
Terceiro, adotar termos institucionais e históricos apropriados: quando o assunto é integração política, falar em União Africana, Comunidades Econômicas Regionais, panafricanismo, movimentos anticoloniais e de libertação; quando se trata de identidades e matrizes culturais, reconhecer linhagens específicas – iorubá, quicongo, kimbundu, ewe-fon – e suas reelaborações afro-brasileiras (Ketu, Angola, Jêje, nagô), bem como religiões de matriz africana no Brasil com seus nomes próprios (Candomblé, Umbanda, Batuque, Xangô) e contextos. Substituir “religião africana” por “religião de matriz iorubá no Recôncavo baiano”, por exemplo, evita a invisibilização e a consequente confusão.
Ser mais preciso não é pedantismo: é compromisso. Quando cidadãos, estudantes, artistas, jornalistas, empresários, cientistas políticos e até mesmo o presidente da República afinam a linguagem, fortalecem a imaginação pública e abrem espaço para relações mais responsáveis entre nós e os diversos povos africanos. Entre nós e nossa negritude. Entre nós e os diversos segmentos da nossa sociedade. Nomear bem é reconhecer sujeitos, trajetórias, instituições e projetos.
Que neste Novembro Negro o gesto de dizer “África” venha acompanhado da delicadeza de se indagar: há ainda validade em tratar negritude e africanidade como sinônimos? As formas antigas de pensar a África ainda nos servem, ou já é hora de abrir os olhos e conhecer as realidades africanas em sua complexidade? Seria a pátria ancestral do negro brasileiro um país chamado África? Conhecemos de fato os nossos fregueses africanos, ou apenas projetamos neles nossos desejos comerciais? E quando dizemos “África” no Brasil, estamos falando de quem – e para quem?
*Ronaldo Lima Vieira é diplomata de carreira. Graduado em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia e em Relações Internacionais pela Birkbeck University of London e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília e em Relações Internacionais pelo Instituto Rio Branco. Atualmente, desenvolve pesquisas sobre relações bilaterais Brasil-Nigéria.
Mais lidos
Semana
-
Processo seletivo Sisu solta resultado da chamada regular; UFMG vai divulgar sua lista de classificados dia 2
Registro acadêmico na Universidade deverá ser feito de 2 a 5 de fevereiro; prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera termina também no dia 2
-
Capacitação Está aberta a ‘temporada’ de inscrições nas pós-graduações da UFMG
Maioria das pós stricto e lato sensu abrem inscrições no início do ano; atualmente, há oportunidades em áreas como engenharias, arquitetura, ciências agrárias, ciências florestais...
-
Processo seletivo Resultado da chamada regular do Sisu 2026 sai nesta quinta, 29
Candidatos devem manifestar interesse em participar das listas de espera até o dia 2, quando a UFMG também publicará sua lista de aprovados; registro acadêmico na Universidade será feito até o próximo dia 5
-
Processo seletivo Resultado da chamada regular do Sisu UFMG já está disponível
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da Universidade disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas
-
Programe-se UFMG aprova calendário escolar de 2026
Principais procedimentos e datas da rotina acadêmica estão estabelecidos em resolução do Cepe
Notícias por categoria
Opinião
-
Opinião “África” no Brasil: um nome, múltiplos sentidos
Em artigo, autor defende a necessidade de combater a noção que reduz o continente a um "país" genérico
-
Opinião UFMG, 98 anos: um sonho que nasce a cada hora
Várias gerações de pessoas – algumas de grande projeção, outras quase anônimas – são responsáveis pelo que a Universidade se tornou
-
Opinião Da promessa da soberania digital à realidade do aluguel tecnológico
Em artigo, os pesquisadores Anna Coli e Gabriel Avritzer, do Ieat, alertam para os riscos que o Brasil corre por não trilhar o caminho do desenvolvimento autônomo
-
Opinião Peruaçu: patrimônio da humanidade e cenário de pesquisas arqueológicas da UFMG
Presença da Universidade na região teve contribuição decisiva nesse processo, analisam os professores Maria Jacqueline Rodet, da Fafich, e Fábio de Oliveira, do IGC
-
Opinião Reprodução humana em crise: causas desconhecidas
Faltam estudos interdisciplinares para mapear e integrar os fatores sociológicos, biológicos e ambientais associados ao fenômeno, escreve o professor Luiz Renato de França, do ICB