| |
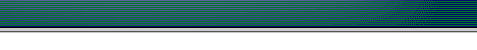  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1732 - Ano 37
04.04.2011
Ruben Caixeta de Queiroz*
Nesta era de crise econômico-financeira-produtiva-social-ambiental, a construção de grandes usinas hidrelétricas (UHE) tem sido uma saída adotada pelo governo e pelo “setor produtivo”, que alardeiam: é a fonte de energia mais barata, limpa e renovável. Fora ela, restaria investir em usinas térmicas, mais poluentes e caras. As outras fontes, mais limpas, teriam custos demasiadamente elevados: solar, biomassa, eólica. Será isso verdade, ou há grandes interesses por trás da defesa das grandes hidrelétricas?
Por ocasião da construção da usina de Balbina, no rio Uatumã, afluente da margem esquerda do rio Amazonas, a Eletronorte, empresa responsável pelo empreendimento, argumentou que a hidrelétrica seria a salvação para a escassez de energia na região de Manaus e desencadeou uma campanha publicitária contra os críticos da obra: “Quem é contra Balbina, é contra você”, dizia o anúncio da estatal, veiculado nas tevês de Manaus. Contudo, quando a barragem foi fechada, em 1989, todos os alertas dos estudos críticos se confirmaram: em área de relevo pouco acidentado, composta por densa floresta, formou-se um lago de 2.380 quilômetros quadrados para instalar uma potência de energia de apenas 250 MW, com a geração real de apenas 120 MW. Para se ter uma ideia, enquanto a segunda maior usina do mundo, Itaipu, precisou inundar uma área de 0,096 quilômetros quadrados para produzir 1 MW, Balbina, para produzir a mesma coisa, submergiu 9,44 quilômetros quadrados.
Do ponto de vista ambiental o empreendimento produziu um efeito deletério. A quase totalidade da madeira não foi retirada antes de se formar o lago de Balbina, o que provocou a decomposição da matéria orgânica e a liberação de um composto tóxico, o metilmercúrio, que contaminou os peixes. Tudo isso fez com que o grau de mercúrio em Balbina fosse superior ao encontrado nas áreas de garimpo do rio Tapajós. Além disso, o lago de Balbina é responsável pela liberação de dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), gases do efeito estufa.
Vejamos o exemplo de Tucuruí, no rio Tocantins: a licitação para construção da barragem foi vencida pela construtora Camargo Corrêa. No início, o orçamento previsto girava em torno US$ 2,1 bilhões. Dez anos depois, chegou a US$ 7,5 bilhões, depois passou para US$ 15 bilhões. A cada ano, o contrato original era aditado, até que ninguém mais soubesse o valor final da obra.
Além das empresas de construção civil, as organizações do segmento minero-metalúrgico também têm interesse nos empreendimentos de barragens, porque pautam seu sistema produtivo no consumo eletrointensivo. No mesmo ano em que foi inaugurada a Hidrelétrica de Tucuruí, em 1984, instalou-se em São Luis (MA) a multinacional Alumar, um dos maiores complexos mundiais de produção de alumínio primário e alumina. Um ano depois, foi instalada, em Barcarena (PA), a Albrás, associação entre a Vale e a NAAC – Nipoon Amazonian Aluminium Co. Ltd., consórcio formado por 17 empresas japonesas.
Alumar e Albrás nasceram junto com Tucuruí, sob fabulosos incentivos fiscais do governo brasileiro. E ainda hoje, a maior parte da energia lá gerada é destinada a essas empresas privilegiadas com tarifas subsidiadas: a Albrás paga US$ 22 por MWh, e a Alumar, US$ 26. O custo de produção dessa energia, calcula-se, é de US$ 38 e US$ 40, respectivamente.
Por que a construção de usinas hidrelétricas na Amazônia através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) seria diferente da que pautou Balbina e Tucuruí, erguidas na época da ditadura e do “milagre econômico”? Poderíamos imaginar que a diferença está no fato de que as hidrelétricas do PAC são construídas a partir de nova legislação ambiental, que prevê, entre outros mecanismos, a elaboração do EIA-RIMA e a proposição de medidas mitigadoras dos impactos socioambientais.
Mas isso de fato está acontecendo? Vejamos o caso de Belo Monte, cujo empreendimento não passa pelo crivo socioambiental e também não resiste a uma análise econômica mais apurada. O físico Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), chegou a dizer que hidrelétricas menores poderiam ter sido construídas no lugar de Belo Monte: “O empreendimento podia ser outro? Podia. Fizeram Belo Monte porque já estavam envolvidos com Belo Monte. Virou a bola da vez”.
E por que virou a bola da vez? As decisões políticas e os interesses dos grandes grupos econômicos, que se fazem exercer em instâncias governamentais como o Ministério das Minas e Energia, passam por cima da legislação ambiental e do modo de vida tradicional da população local. O caso de Belo Monte é eloquente: os próprios técnicos do Ibama e da Funai emitiram pareceres contrários à licença prévia de instalação da obra por falta de condicionantes preliminares, mas, por pressões políticas, o presidente da primeira autarquia foi afastado. Depois, concedeu-se uma licença parcial de instalação do canteiro da usina, figura que não existe no sistema legal de licenciamento.
As grandes hidrelétricas começaram a ser construídas na década de 1970, com o objetivo principal de gerar eletricidade para as indústrias que consomem muita energia. Belo Monte segue apenas essa lógica que privilegia a instalação de indústrias eletrointensivas que empregam mão de obra barata, a construção de trilhos que desembocam nos portos para levar o minério, o financiamento público de grandes empreiteiras que também financiam os políticos; enfim, essa tanto é a lógica do “milagre econômico” quanto a da “aceleração do crescimento”.
Contudo, há uma diferença: na década de 1970, ainda não imaginávamos os impactos das mudanças climáticas e dos desastres socioambientais, ou ainda não havia razão para cuidar da maior reserva de água potável do mundo. Também não conhecíamos o destino de Chico Mendes e Dorothy Stang, assassinados a mando de fazendeiros que não suportavam a causa pela qual lutavam: preservar a floresta e os rios, com os homens lá dentro, vivendo de sua pequena agricultura e do extrativismo.
*Professor de Antropologia da Fafich
Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 5.000 a 5.500 caracteres (com espaços) ou de 57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira.