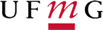Ciência e ativismo político
Rigor científico e militância política podem coexistir? É possível fazer ciência de qualidade adotando uma postura claramente ativista? Há espaço hoje para o cientista-cidadão? A discussão sobre a compatibilidade entre rigor científico e ativismo político não é nova e, de certa forma, antecede o próprio surgimento da ciência moderna.
MAYA MITRE*
De fato, desde a antiguidade clássica, quando os filósofos foram convocados por Platão a governarem em nome do bem comum, a pergunta sobre o papel social e o engajamento político daqueles que detêm conhecimento especializado ressurge periodicamente, ainda que sob distintas formas. Não faz muito tempo, entre 2003 e 2008, assistimos à mobilização de cientistas brasileiros em favor da aprovação das chamadas pesquisas com células-tronco embrionárias – aclamadas pelo seu potencial terapêutico e criticadas pelo fato de destruírem embriões humanos, considerados por muitos como titulares do direito constitucional à vida. A geneticista Mayana Zatz, que se tornou uma espécie de porta-voz dos atores e entidades favoráveis a essas pesquisas, trocou muitas vezes os laboratórios da Universidade de São Paulo pelos holofotes da mídia e salas e corredores do Congresso Nacional, apelando enfaticamente pelo direito de milhares de pacientes brasileiros à saúde.
Apesar de bem-sucedida, sua estratégia de intenso lobby político não foi bem recebida por todos; em parte, em função do desconforto que provoca o comportamento do cientista que abandona a “torre de marfim” para se engajar nas lutas da pólis, seja para reivindicar recursos para realizar seu trabalho ou para advogar em prol de uma causa que o apaixona tanto como profissional quanto como cidadão. Mas de onde vem esse estranhamento? Por que olhamos com desconfiança para o posicionamento, lado a lado, das palavras ciência e militância, e de que maneira essa ideia vem sendo desafiada nos dias de hoje?
Apesar de não existirem respostas definitivas para essas perguntas, é interessante entender como, ao longo da história, tais dilemas foram pensados. A ciência moderna nasceu com a tarefa de encontrar, por meio da experimentação e da observação, as “causas” e as leis que regem os fenômenos da natureza. Suas promessas de trazer estabilidade e fartura e até mesmo de prolongar a vida deram-se, entretanto, a partir de uma separação, inexistente entre os antigos e os medievais, entre fatos e valores, objetividade e subjetividade, conhecimento da verdade e conhecimento do bem. Em outras palavras, ela chamou para si a empreitada de descobrir os “fatos objetivos” e estabelecer suas causas, relegando a domínios como o da política e o da religião as discussões “subjetivas”, de cunho valorativo e moral. Foi com base nessa “divisão de tarefas” que o cientista social Max Weber reagiu ao chamado para que os acadêmicos alemães se engajassem na política. Para Weber, ciência e política seriam vocações opostas e inconciliáveis. Isso porque a primeira, diferentemente da segunda, seria um método neutro e incapaz de dizer qualquer coisa a respeito de “como devemos viver”. Nesse sentido, aproximar ciência e política somente macularia a cátedra acadêmica.
Outro fator que, em época mais recente, reforçou a aspiração a uma ciência autônoma e distante das tramas da política refere-se às consequências desastrosas de duas experiências de intervenção do Estado na atividade científica: a da União Soviética e a da Alemanha nazista. No primeiro caso, exemplos como o da rejeição oficial à genética mendeliana, em reação à suposta ideologia burguesa que se manifestava na ciência ocidental, atrasaram e desacreditaram por muitos anos as ciências biológicas soviéticas e levaram ao ostracismo pesquisadores promissores, que se recusavam a acreditar nas teorias de Trofim Lysenko. No segundo, experimentos médicos antiéticos, com prisioneiros dos campos de concentração, deixaram marcas que se refletem até hoje nas fortes restrições do governo alemão às pesquisas e técnicas que possam conter objetivos eugênicos ocultos ou representar ameaça à vida – inclusive à do embrião.
Foi como reação a esses exemplos catastróficos que se consolidou o argumento, já apontado por Alexis de Tocqueville no século 19, de que somente o regime democrático ofereceria um solo fértil para o desenvolvimento da ciência. Isso porque, curiosamente, ele seria o único capaz de blindá-la da interferência da política. Foi esse o princípio que forneceu a base da famosa política norte-americana do pós-Segunda Guerra, conhecida como o “contrato social da ciência”, segundo a qual o governo deveria financiar a pesquisa (tanto a básica quanto a aplicada) sem submeter os cientistas a controles políticos rígidos (normas tradicionais de accountability), uma vez que eles próprios se fiscalizariam, por meio do mecanismo de avaliação por pares. Em outras palavras, acreditava-se que, somente livre do controle estatal, ou autogovernada, a ciência atingiria o auge de sua produtividade e de seu potencial de beneficiar a sociedade. Vale lembrar que, apesar do paralelo existente entre a ideia da autocoordenação da atividade científica e teorias liberais sobre o funcionamento do mercado, como as de Adam Smith, acreditava-se que, diferentemente do capitalista, o pesquisador não seria movido pelo desejo de enriquecimento, mas pela simples satisfação intelectual da descoberta.
| Desirée Rodrigues e Thomaz Carvalho |
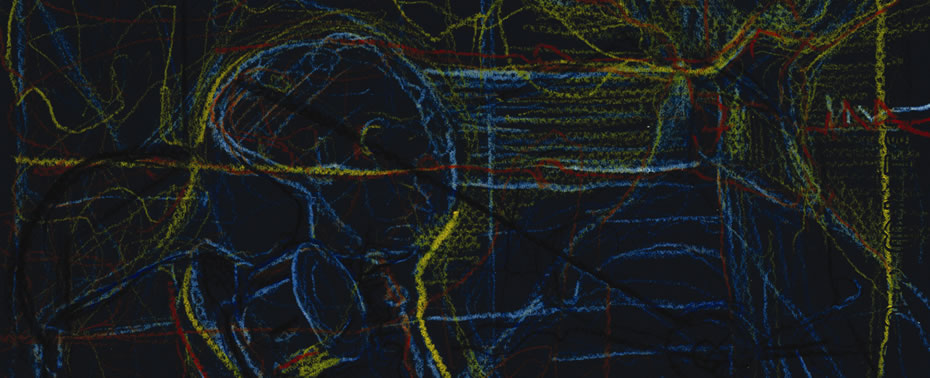 |
Esse ideal, que tomava como pressuposto a “pureza dos cientistas”, ecoou também entre a elite brasileira dos anos 1940. Foi nesse contexto que, cansados de se sujeitarem à lógica imediatista e instrumentalista dos governantes, os cientistas de nosso país reivindicaram mais recursos para o desenvolvimento de suas atividades e liberdade para realizarem seu trabalho sem terem que se submeter a entraves burocráticos ou a mudanças ligadas à alternância de poder. Com esse intuito, foram criadas, por exemplo, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp).
A separação entre ciência e política tornou-se, no imaginário ocidental, a principal fonte de legitimidade da primeira: a garantia de que a vocação, quase transcendental, do cientista para alcançar as verdades objetivas da natureza não seria corrompida por seus interesses, paixões, valores ou preferências pessoais – isto é, pelo seu lado humano, subjetivo. Hoje, entretanto, esse ideal já não é aceito sem questionamentos. Isso ocorre, em primeiro lugar, devido a uma percepção mais crítica sobre o processo de produção de conhecimento científico, que reconhece que ele sofre a influência de fatores sociais e não prescinde da negociação entre os próprios cientistas e destes com outros grupos de interesse.
Em segundo lugar, o questionamento dessa separação encontra-se em sintonia com uma forte tendência de valorização da participação dos cidadãos nas tomadas de decisão que afetam suas vidas e de maior controle sobre os gastos públicos. Isso se reflete também nas demandas por mais transparência nos investimentos do Estado e pela geração de conhecimento científico em sintonia com as necessidades sociais. No Brasil, mecanismos como o currículo Lattes e a prestação de contas de bolsas e recursos concedidos para pesquisas, assim como iniciativas de maior colaboração entre as universidades públicas e as empresas privadas, tais como a Lei de Inovação Tecnológica ou “Lei do Bem”, atendem parcialmente essas expectativas.
Todas essas mudanças, entretanto, não devem ser vistas como diminuição do “valor da ciência”, mas como uma reestruturação dos fundamentos de sua autoridade e de seu papel na sociedade. Atualmente, os cientistas são vistos menos como detentores de verdades inquestionáveis do que como especialistas capazes de exercer julgamentos a respeito de temas específicos e, desta forma, trabalhar em prol do interesse público. No episódio das pesquisas com células-tronco no Brasil, muitos foram os pesquisadores que admitiram a incapacidade de disciplinas como a embriologia e a genética de fornecerem respostas definitivas à pergunta sobre o início da vida humana – o que poderia iluminar o debate sobre o status moral e legal do embrião. Por outro lado, esses mesmos atores enfatizaram a possibilidade de utilizar tais pesquisas como meio de servir a sociedade. O reconhecimento dos limites epistemológicos da ciência, dos cientistas como grupo de interesse e de suas conexões com a política não põe a ciência no mesmo plano do misticismo ou da religião. Tampouco coloca em pé de igualdade o pesquisador e o cidadão leigo. Simplesmente abre caminho para um diálogo mais franco com a sociedade e permite que figuras como a do cientista-cidadão, ou do cientista-ativista, sejam percebidas não como aberrações, mas como parte desejável e cotidiana das democracias contemporâneas.
*Doutora em Ciência Política pela UFMG (2011), autora da tese “Ciência e Política na era das novas biotecnologias: uma análise do caso brasileiro à luz de outras experiências”, mestre em Ciência Política pelo Boston College e bacharel em Comunicação Social/Jornalismo pela UFMG (2002).