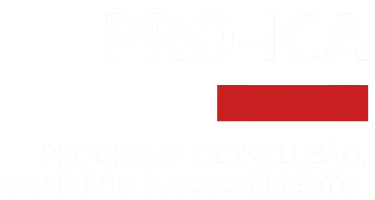Você provavelmente já leu ou ouviu falar sobre a queda do meteorito que causou a extinção não somente dos dinossauros, mas de grande parte dos seres vivos do Período Cretáceo, há 66 milhões de anos. O evento levou à morte e extinção de, aproximadamente, 40% dos gêneros animais e até 60 a 80% das espécies. Entretanto, o meteoro de Chicxulub, como é conhecido, não está nem perto de ser o maior a colidir com a Terra. Estudos feitos em Harvard sobre a queda de uma rocha espacial, 50 a 200 vezes mais massiva, há aproximadamente 3,26 bilhões de anos, vem nos revelando seus impactos no contexto Paleoarqueano terrestre.
O período Paleoarqueano foi marcado por, além do surgimento dos primeiros organismos unicelulares, um intenso fluxo de colisões e impactos de meteoritos. A conformação terrestre era bem diferente da que observamos atualmente, sendo recoberta por oceanos bem mais extensos, com surgimento limitado de vulcões e rochas continentais. A presença de gás oxigênio na atmosfera e na água era reduzida, e os organismos com núcleo em sua célula ainda não haviam se desenvolvido.

Nesse contexto, a queda de um meteorito de aproximadamente 37 a 58 km, resultou em transformações drásticas no planeta. Começando pelo impacto de sua queda: mesmo no fundo do oceano, a energia gerada pela colisão foi capaz de vaporizar quaisquer rocha ou sedimentos atingidos pelo meteorito, assim como a si próprio. O fenômeno gerou uma nuvem de vapor de rochas e poeira, que, ao subir para a atmosfera, desencadeou um escurecimento no céu, impedindo a entrada de luz solar na superfície terrestre e causando a morte dos indivíduos fotossintetizantes.
Também foram formados gigantescos tsunamis, que inundaram as áreas de costas. Em conjunto, a energia causada pela colisão foi dissipada em forma de calor, o que culminou no aquecimento da atmosfera, sendo capaz até mesmo de ferver a camada superior dos oceanos. O aquecimento também foi responsável por impulsionar um aumento de curto prazo no intemperismo e erosão na Terra.
Entretanto, tal queda também trouxe aspectos benéficos para a vida terrestre presente na época. O tsunami causado pelo impacto poderia ter homogeneizado a água dos oceanos, levando os nutrientes de áreas mais ricas para regiões com menor taxa de nutrientes. Outro ponto seria a grande quantidade de ferro trazida com o meteorito, já que esse elemento atua como um nutriente essencial para organismos. O aumento do ferro e, consequentemente, da ocorrência de seu ciclo, pôde facilitar as florações microbianas, ou seja, contribuiu para o crescimento excessivo de microrganismos aquáticos.
Assim como a gigante onda provocada com o impacto, a vaporização do objeto e demais rochas também trouxe consequências benéficas para a vida microbiana. O fenômeno foi capaz de liberar volumes significativos de enxofre, fósforo e ferro na biosfera, os quais foram aproveitados e utilizados pelas comunidades microbianas.
Os estudos acerca do impacto tiveram como base evidências encontradas em Barberton Greenstone Belt, uma região no nordeste da África do Sul. Entre os indícios da queda do meteorito e suas consequências, foram analisadas assinaturas geoquímicas, além de estudos de sedimentologia e petrografia das regiões afetadas. Outros pontos examinados foram fósseis de bactérias marinhas e estruturas esféricas formadas a partir do derretimento de rochas causado pelo impacto.
Nesta exposição de 30 segundos, tirada com uma lente circular olho de peixe, um meteoro cruza o céu durante a chuva de meteoros Perseidas, enquanto um fotógrafo limpa a umidade da lente da câmera no dia 12 de agosto de 2016, em Spruce Knob, Virgínia Ocidental. (Créditos: NASA/Bill Ingalls).
Ao analisar todos os efeitos causados por esse encontro entre uma gigante rocha espacial e nosso planeta, é possível perceber que a Terra, como conhecemos hoje, sofreu várias alterações em sua história e evolução. É impossível não questionar a possibilidade de que ainda tenhamos muito o que descobrir sobre os acontecimentos que formaram o planeta que chamamos de lar. Também é notória a resiliência e o esforço da vida terrestre para continuar existindo.
[Texto de autoria de Gabriela Costa, estudante de Ciências Biológicas e estagiária do Núcleo de Astronomia]