| |
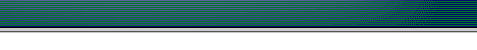  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1533 - Ano 32
01.06.2006
A ciência na crista da onda
Flávio de Almeida
![]()
oucas vezes a ciência esteve tão em evidência quanto nos dias atuais. Isso se reflete diretamente no aumento de instrumentos de divulgação científica, com destaque para as publicações especializadas e para o aumento de disciplinas de jornalismo científico nos cursos de comunicação social. É o que diz o jornalista Bernardo Esteves, editor da Revista Ciência Hoje On-line, e autor de dissertação de mestrado, defendida na UFRJ, e livro sobre a experiência do suplemento Ciência para Todos, editado pelo jornal carioca A Manhã, entre 1948 e 1953.
Eber Faioli.jpg) Bernardo Esteves: incompreensão mútua |
A publicação foi tema de palestra que o jornalista fez na UFMG no dia 9 de maio a convite do Scientia, grupo de Teoria e História da Ciência da Fafich. Na ocasião, concedeu entrevista ao BOLETIM em que abordou a formação dos profissionais que cobrem ciência e a convivência – nem sempre harmônica – entre jornalistas e cientistas.
O senhor faz uma análise sobre aquela que foi a primeira experiência de divulgação científica no Brasil, o suplemento Ciência para Todos, editado pelo jornal A Manhã. Em que contexto histórico ela se deu?
Antes de mais nada é preciso esclarecer que há relatos de iniciativas de divulgação científica no Brasil desde o século XVIII. Talvez a experiência do jornal A manhã tenha sido a primeira num jornal que dedicou tanto espaço (12 a 16 páginas) e tempo (1948 a 1953) a esse assunto. O surgimento do suplemento precisa ser entendido à luz do pós-segunda guerra, quando houve um grande interesse pela Ciência, que até em função da bomba atômica teve grande influência no desenrolar do conflito. No caso brasileiro, esse interesse somou-se à mobilização da comunidade científica brasileira ao final da ditadura Vargas, em 1945. O Estado Novo não tinha interesse especial pela ciência e, com a queda do regime, alguns pesquisadores começaram a lutar por condições mais propícias para a prática científica no Brasil. Foi nessa época que surgiram a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e o CNPq. Essa mobilização serviu, de certa forma, para viabilizar a criação do suplemento, que teve como colaboradores pesquisadores de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Desde então, mais de 50 anos se passaram. O que evoluiu no panorama da divulgação científica brasileira?
Muita coisa mudou. Temos hoje mais profissionais de comunicação dedicados exclusivamente à divulgação científica. Alguns estudos apontam a existência de momentos históricos em que a ciência ocupa um espaço maior na sociedade, o que se reflete na cobertura de imprensa. O período retratado no livro é um deles, e hoje vivemos um fenômeno parecido. É só observar as revistas de divulgação científica em circulação, como a Ciência Hoje, a Superinteressante, a Globo Ciência (hoje Galileu) e, mais recentemente, a Pesquisa Fapesp. Temos, ainda, versões brasileiras das revistas Scientific America e Astronomy. Além disso, começam a aparecer cursos de especialização em divulgação científica nas universidades, como na Unicamp e USP, e os próprios cursos de jornalismo abrigam, cada vez mais, cadeiras de jornalismo científico. De novo a ciência está em evidência, e o espaço, ocupado no pós-guerra pela física por causa da bomba atômica, agora é preenchido pela biologia molecular, genética, clonagem, células-tronco e biotecnologia.
O jornalismo consegue dar conta desse interesse crescente pela ciência?
Começamos a observar, ainda de forma muito incipiente no Brasil, a especialização dentro do jornalismo cientifico. Na Editoria de Ciência da Folha de S. Paulo, talvez a mais estruturada da imprensa brasileira, existe uma especialização informal que nasce do próprio interesse do repórter. O ideal seria que os jornalistas se especializassem em determinado campo da ciência. Mas é um horizonte bem distante da realidade do Brasil, que sequer chegou ao estágio de contar com profissionais tratando especificamente de ciência.
Como transpor para o jornalismo científico a prática de ouvir o outro lado ou de buscar vozes divergentes sobre um mesmo assunto, um dos pilares da atividade jornalística?
Mais uma vez caímos no problema da especialização. Na maioria dos casos, o jornalista não tem formação e informação para pôr um cientista em xeque. Em outras áreas, há grandes nomes do jornalismo, como o Clóvis Rossi (colunista da Folha de S. Paulo), uma autoridade no meio político. Isso não ocorre na ciência. É difícil encontrar um jornalista com voz para contestar a fonte, alguém com bagagem para achar o contraponto e confrontar aquele estudo com outros já realizados. O cientista descreve o método e, na maioria das vezes, o jornalista não sabe apontar uma fragilidade nele.
Jornalista e cientista são dois interlocutores em permanente conflito. Um corre contra o tempo para divulgar seus “furos”. O outro precisa de tempo para comprovar suas experimentações. Como transformar esse conflito num diálogo minimamente civilizado?
O que há é uma incompreensão mútua e a chave para resolver esse problema está no esforço recíproco para entender a cultura do outro. Há, no exterior, alguns programas que levam jornalistas para o laboratório. Durante duas semanas, ele fica ali fazendo experimentos para entender a lógica de produção do conhecimento. Por outro lado, também existem iniciativas que levam o cientista para a redação, onde é obrigado a escrever matéria, com o editor no pescoço dele cobrando o texto na hora certa. Mas não existe apenas incompreensão. Há relatos de casos profícuos e de relações bem-sucedidas.
O jornalista pode cultivar uma fonte e adquirir a confiança do cientista ao demonstrar que compreendeu e relatou com fidelidade os resultados de uma pesquisa. As duas partes não precisam nem devem ser antagônicas.