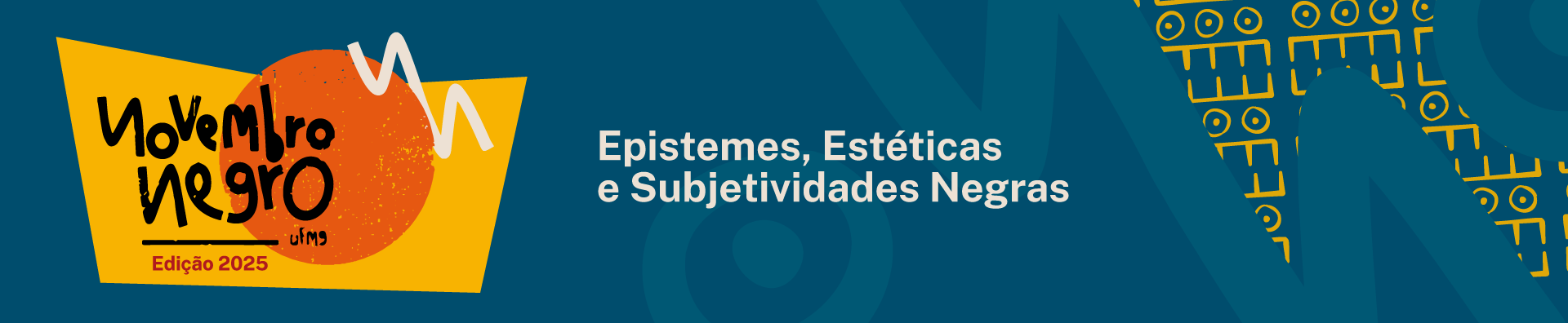Wanderson Flor, da UnB, defende a subjetividade negra como ‘resistência criadora’
Em conferência de abertura do Novembro Negro, o filósofo propôs uma reflexão sobre epistemes, estética e sensibilidade como dimensões de luta e existência

A conferência Subjetividades negras, entre epistemes e estéticas, ministrada por Wanderson Flor do Nascimento, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília (UnB), abriu a oitava edição do Novembro Negro, nesta segunda-feira (3), no auditório da Reitoria. O evento promove atividades acadêmicas e culturais dedicadas à valorização das raízes afro-indígenas e à reflexão sobre racismo, diversidade e ações afirmativas.
Em sua exposição, Wanderson Flor afirmou que as subjetividades negras, em vez de ser um tema abstrato da academia, constituem campo vivo, pulsante e corporal, no qual se cruzam história, estética e política. Para o pesquisador, compreender o processo pelo qual as pessoas negras “se tornaram aquilo que hoje são” exige reconhecer as tensões de uma subjetividade forjada entre a violência do colonialismo e a força inventiva da resistência.
“O processo que constrói as subjetividades negras não é fixo. É forjado numa tensão constante. De um lado, uma máquina mortal de opressão; de outro, uma força que, há cinco séculos, cria, recria e reinventa formas de ser, saber e persistir em existir”, pontuou o docente, que é pesquisador das tradições brasileiras de matrizes africanas, desenvolve estudos sobre filosofia africana e afro-brasileira, bioética, relações raciais e de gênero, subjetividade e ensino de filosofia.
‘Não ser’ e ‘epistemicídio’
Ao tratar das violências raciais que persistem no Brasil, Wanderson Flor sublinhou que a negação do racismo é parte do próprio funcionamento da máquina colonial, que constrói o corpo negro como um “não ser”, isto é, como sujeito destituído de humanidade e de capacidade de produzir conhecimento. O filósofo retomou o conceito de “epistemicídio”, formulado pela escritora Sueli Carneiro, como o aniquilamento simbólico e material das formas de saber e dos corpos negros, acompanhado por um “ataque estético” que define padrões de beleza e sensibilidade indiferentes ao sofrimento.
Wanderson Flor observou que, embora a denúncia da violência racial permaneça necessária, é igualmente urgente afirmar as práticas criativas e sensíveis que reconstroem a humanidade negra. “A experiência negra mostra que a gente cria resistindo e resiste criando”, afirmou, ao descrever a estética como campo de sensibilidade, uma ‘aísthêsis’, que modela o modo como as pessoas percebem e sentem o mundo. “O racismo estrutura uma gramática moderna da violência, que nos ensina a desejar a violência. Mudar essa gramática significa reinventar as formas de sentir, desejar e perceber o mundo”, enfatizou.

Estéticas da resistência
O filósofo recorreu a pensadoras negras como Lélia Gonzalez, Neusa Santos Souza, Sueli Carneiro e à filosofia contracolonial de Nego Bispo para traçar um “mapa de encruzilhadas” entre subjetividade, estética e conhecimento. Inspirado em Lélia, ele lembrou que o português falado no Brasil guarda traços africanos e indígenas – o que a autora chamou de “amefricanidade” – e que a língua, assim como o corpo, é um espaço de resistência. “Nossa episteme e nossa estética estão marcadas pela África e pelos povos originários, de modo indelével”, disse.
O conferencista destacou ainda que o epistemicídio foi acompanhado por um “morticínio” – a eliminação física dos corpos negros – e que, contra ambos, ergueram-se insurreições epistêmicas e estéticas, materializadas nas práticas culturais e intelectuais afro-brasileiras. “A resistência negra no Brasil sempre foi epistêmica e cultural: criou escolas, terreiros, quilombos, blocos, reinados e arte como formas de refazer o corpo e o saber”, afirmou.
Do auto-ódio à cura coletiva
Com base na psicanálise de Neusa Santos Souza, Wanderson Flor analisou como o racismo produz um “ideal de ego branco” internalizado, gerando o que a autora chamou de “ferida narcísica”. A reconstrução da subjetividade negra, portanto, é também um processo de cura coletiva, que se dá por meio da valorização do corpo, da linguagem e da estética negra. “A subjetividade negra não é lugar de sofrimento passivo. É lugar de criação resistente e de resistência criadora”, sintetizou o filósofo.
Ao concluir sua conferência, Wanderson Flor destacou a importância de aproximar a universidade dos saberes produzidos em espaços comunitários e religiosos, como os quilombos, os terreiros e os movimentos populares. “Talvez a universidade ainda tenha muito a aprender com esses lugares, porque foram eles que alimentaram as lutas que hoje nos mantêm vivos e pensantes”, afirmou.

Celebração da vida
A pró-reitora de Assuntos Estudantis, Licinia Correa, destacou que o Novembro Negro reafirma-se como movimento de resistência e produção de conhecimento coletivo. Ela lembrou que o tema deste ano expressa a presença e a centralidade do pensamento negro na universidade. “As primeiras universidades nasceram no continente africano. Os povos negros sempre fizeram e sempre fazem ciência – mas fazemos ’emociência’”, afirmou, ao defender um modo de produção do saber que reconhece a afetividade, o corpo e a ancestralidade como dimensões inseparáveis da razão.
Licinia Correa sublinhou que o evento não é apenas uma celebração, mas também um espaço de denúncia e mobilização diante da continuidade da violência racial no país. “Vivemos o luto porque o Estado brasileiro continua a matar nossos jovens. Só na semana passada, 121 pessoas, em sua maioria negras, foram assassinadas em poucas horas”, lembrou. Citando Conceição Evaristo, completou: “Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer”. Para a professora, o genocídio da juventude negra é a face atual do projeto histórico de branqueamento e de exclusão que atravessa o país desde o início do século 20.
A pró-reitora enfatizou ainda que o Novembro Negro é um movimento “espiralar”, citando a professora e ensaísta Leda Maria Martins – um ir e vir entre a universidade e a comunidade, que amplia o pertencimento e faz circular saberes plurais. Ao celebrar figuras como Maria Firmina dos Reis e Beatriz Nascimento, Licinia lembrou que essas intelectuais forjaram epistemologias e estéticas próprias, capazes de “reflorestar as mentes” e romper com os padrões coloniais do conhecimento. “Estamos aqui para dizer que existimos e resistimos, que o axé que nos move é força vital, intelectual e política”, frisou, concluindo que a luta antirracista na UFMG se concretiza na busca coletiva por emancipação e na formação de uma sociedade verdadeiramente democrática, justa e plural.

Universidade inclusiva
Para a reitora Sandra Goulart, o evento é fruto de um movimento que “nasceu de forma modesta e se tornou uma construção coletiva da comunidade universitária”. O Novembro Negro, segundo ela, simboliza a força da participação de estudantes, professores e técnicos, que propõem atividades e reflexões com base em suas próprias experiências, tornando a celebração um espaço genuíno de produção e partilha de saberes.
A dirigente destacou que o atual contexto político reforça a necessidade de uma universidade pública comprometida com a democracia e com a justiça social. “Não podemos falar em democracia em um Estado que mata nossos irmãos e irmãs”, afirmou, em referência aos episódios de violência que vitimaram majoritariamente pessoas negras. Sandra Goulart defendeu uma democracia antirracista, antissexista e inclusiva, capaz de enfrentar as desigualdades estruturais e a herança colonial.
Ao reconhecer os avanços das políticas afirmativas, ela lembrou a transformação visível no perfil da comunidade acadêmica. “Há 35 anos, não víamos tantas pessoas pretas nas nossas aulas e nos nossos corredores”, observou. Encerrando sua fala, também evocou Conceição Evaristo: “Do coletivo, eu trago a minha força e sei que não estou sozinha”, disse, reafirmando que a universidade é, e deve continuar sendo, lugar de pertencimento, resistência e construção coletiva.

Mês de reflexão
Nas próximas semanas, a UFMG promove ampla programação acadêmica e cultural dedicada ao Mês da Consciência Negra, com o objetivo de promover reflexões sobre o racismo, o direito à diferença e a valorização das raízes afro-indígenas. O Novembro Negro, criado em 2018, consolidou-se como um dos mais importantes movimentos da Universidade, ao reunir coletivos, grupos de pesquisa, órgãos e entidades estudantis e docentes em torno de um mesmo propósito: fomentar o diálogo e a ação diante das desigualdades raciais e das violências estruturais que marcam a sociedade brasileira.
Nesta oitava edição, com o tema Epistemes, estéticas e subjetividades negras, o evento reafirma o compromisso da UFMG com uma universidade pública inclusiva e antirracista. A escolha da temática resultou de uma consulta pública à comunidade universitária, refletindo o caráter participativo da iniciativa. A programação inclui mais de 170 atividades distribuídas em diversos espaços da instituição, entre oficinas, contações de histórias, palestras, conferências, debates e apresentações artísticas.
O evento foi aberto com um café africano seguido da apresentação musical Cor de sangue – a música preta brasileira, feita pela cantora Vitória Ventura, pela flautista Sarah Silva e pelo pianista Rian Reis. O trio executou as canções Magrelinha, de Luiz Melodia, Acalanto, de Luedji Luna, Meu bem querer, de Djavan, e Encontros e despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant
A cerimônia de abertura da edição 2025 do Novembro Negro está disponível no YouTube.