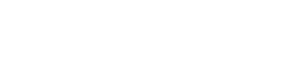Marlise Matos*

Pretendia escrever apenas sobre os 90 anos do sufrágio feminino no Brasil, uma conquista fundamental da cidadania feminina deste país. O avanço já foi parcial quando ocorreu em 1932 e continua inacabado entre nós até os dias de hoje. Mas não foi possível discorrer somente sobre isso, pois enfrentamos, neste ano, uma guerra declarada por detrás das eleições e uma ameaça concreta à nossa democracia. Por isso, tentarei apresentar, neste breve ensaio, possibilidades de articulação entre esses fenômenos.
A luta pelos direitos políticos das mulheres equivalia à época em que a batalha pelo sufrágio se travou no Brasil – início do século 20 – à luta pelo reconhecimento delas como sujeitos públicos, como cidadãs em plenitude e igualdade com os homens. Era uma luta praticamente impossível e se travou numa batalha duríssima pela emancipação moral, cognitiva, política e social das mulheres.
Mais atrás, em meados dos 1800, quando essas discussões se iniciaram no Brasil, tínhamos praticamente apenas duas vozes públicas femininas que se colocavam – de forma desigual – nessa luta: a abolicionista feminista Nísia Floresta (1810-1885), no Rio Grande do Norte, e a feminista Violante Bivar e Velasco (1817-1875), que, em 1852, ajudou a fundar o primeiro veículo dirigido por mulheres – o Jornal das Senhoras. Cabe destacar que a principal luta das duas pioneiras era pelo direito à escolarização das mulheres. O direito ao sufrágio viria depois. Ambas conseguiram se educar, tendo sido escolarizadas, ora em casa, ora em conventos, e tiveram o privilégio de pertencer a famílias abastadas, o que lhes permitiu presenciar reuniões sociais e políticas dos grandes círculos intelectuais de suas épocas.
Assim, a autonomia das mulheres no Brasil Império – numa sociedade profundamente colonial, patriarcal e escravagista – estava vinculada ao papel desempenhado por seus pais e maridos. Também é certo afirmar que o que se poderia imaginar como primeiros passos do movimento pelos direitos da mulher às suas liberdades individuais coincidiu, em parte, com o movimento pela escolarização feminina e pelo direito ao sufrágio, que permaneceram associados inicialmente a uma classe de mulheres brancas, que tinham algum acesso à educação e participavam, de forma limitada, dos círculos políticos, quase sempre vinculadas aos homens, que invariavelmente as tutelavam.
Esses primeiros passos permitiram que se iniciasse, no Brasil, a disputa em relação ao estatuto da masculinidade e da feminilidade em busca do próprio sentido do que seria “uma mulher”, que, à época, oscilava frequentemente entre “mulher-anjo” e “mulher-demônio”. A “mulher-anjo” nos remete aos papéis de “rainha ou serva do lar”, mãe zelosa, recatada, sensível, doce e educada; a “mulher-demônio” representa mulheres já “perdidas” desse caminho de mão única da “boa moral” feminina; são, enfim, as “devassas”. Dessa forma, o “mundo feminino” deveria – moral e existencialmente – ser o dos sentimentos, dos cuidados e do lar, tudo vivido na e para a esfera doméstica, privada e intrafamiliar. Qualquer desvio dessa condição era considerado “imoral” pelo patriarcado imperial colonial e racista brasileiro.
Em 1889, com a Proclamação da República, a luta sufragista foi renovada, e um dos constituintes, o médico e intelectual baiano César Zama (1837-1906), numa sessão histórica em 30 de setembro de 1890, durante os trabalhos de elaboração da primeira Constituição republicana brasileira, defendeu, pela primeira vez no espaço parlamentar, o sufrágio universal para as mulheres. Na Constituinte de 1890, a discussão sobre o voto feminino foi intensa. O anteprojeto de Constituição, elaborado a mando do governo provisório, não concedia o sufrágio às mulheres, mas, na chamada Comissão dos 21 no Congresso, três deputados propuseram que ele fosse concedido “às mulheres diplomadas com títulos científicos e de professora, desde que não estivessem sob o poder marital nem paterno, bem como às que estivessem na posse de seus bens”, segundo registro nos anais da sessão. A emenda não foi aceita, bem como outras, que possibilitavam o sufrágio “às cidadãs, solteiras ou viúvas, diplomadas em direito, medicina ou farmácia” e às que dirigissem “estabelecimentos docentes, industriais ou comerciais”.
Assim, no início dos trabalhos do projeto da primeira Constituição republicana brasileira, em janeiro de 1891, 31 constituintes assinaram uma emenda de autoria de Saldanha Marinho, atribuindo o direito de voto à mulher brasileira. Começaram aí as batalhas públicas, com uma onda de pressões de toda sorte contra a inciativa, a ponto de figuras como Epitácio Pessoa, que havia subscrito a emenda, retirar seu apoio dez dias depois. Quais eram, afinal, os principais argumentos dessa negativa à época?
Na sessão de 27 de janeiro de 1891, o deputado Pedro Américo afirmou: “A maioria do Congresso Constituinte, apesar da brilhante e vigorosa dialética exibida em prol da mulher-votante, não quis a responsabilidade de arrastar para o turbilhão das paixões políticas a parte serena e angélica do gênero humano” (itálicos meus). Coelho Campos foi ainda mais radical: “É assunto de que não cogito; o que afirmo é que minha mulher não irá votar”. E o Constituinte e defensor da proposta, César Zama, afirmou: “Bastará que qualquer país importante da Europa confira-lhes direitos políticos, e nós o imitaremos. Temos o nosso fraco pela imitação”. Apesar do apoio de figuras centrais, como Ruy Barbosa e o Barão do Rio Branco, o Brasil perdeu a oportunidade de se tornar o primeiro país na América Latina a promulgar o direito de voto feminino.
As bases da submissão feminina
Ressaltam, todavia, desse relato elementos e argumentos que permanecem centrais: as mulheres estariam destinadas, concreta e moralmente, à vida do lar. Isso porque elas seriam as bases centrais, o principal esteio da estrutura de dominação intitulada “família patriarcal” e racista. Por isso, a primeira Constituição da República, além de não incluir as mulheres, tomava a alfabetização como condição para o exercício do voto e excluía todas as pessoas negras.
Argumentos dessa natureza nunca foram novidade. Pitágoras já afirmava que “uma mulher em público está sempre fora do lugar”. Segundo Michéle Perrot, na obra Minha história das mulheres (2007), o “recato”, desde a Antiguidade Clássico, era considerado virtude feminina por excelência, um dever das mulheres, que deveriam permanecer confinadas.
Mas foi a doutrina cristã que construiu o conjunto mais robusto de justificativas para estabelecer as razões da “necessária” submissão feminina: primeiro que o homem não teria sido criado pela mulher; a mulher é que, ao contrário, teria sido criada pelo homem (o que a colocava em posição essencialmente submissa); segundo, a mulher passaria a ser definida pelo cristianismo como a “introdutora do pecado”, isto é, o “portão por onde entraria o demônio” e responsável direta pela condenação de todos os homens, constituindo-se, assim, na vítima e, ao mesmo tempo, na parceira consciente do diabo. A única salvação possível para as mulheres desse destino terrível seria a sua submissão ao jugo da família patriarcal, por meio do casamento e de seu comportamento servil no lar.
O fato é que o sufrágio feminino no Brasil, quando aprovado, em 1932, alcançava apenas mulheres solteiras com renda, casadas devidamente “autorizadas” pelos seus maridos e viúvas, que se constituíram no grupo das privilegiadas. Essa foi uma séria limitação que nos tomou anos em sequência para desmontar.
No cenário atual, a capacidade eleitoral ativa do sufrágio (poder votar) alcança todas as mulheres brasileiras, mas a capacidade eleitoral passiva (eleger-se) – direito político tão fundamental para as democracias representativas – ainda está bem distante de cada uma de nós. E o mais assustador: temos assistido a um reavivamento de iniciativas de que as mulheres, em pleno século 21, devam estar no seu “devido” lugar: em casa, cuidando, sobretudo.
Para imensa surpresa do contingente de mulheres esclarecidas deste país, a revista Veja, no dia 18 de abril de 2016, publicou matéria traçando uma espécie de “perfil” de Marcela Temer, a esposa do então vice-presidente do Brasil, Michel Temer. Logo na manchete, destacava-a como mulher “bela, recatada e do lar”. Um texto de cunho elogioso engrandecia o fato de Marcela ser discreta, falar pouco, usar vestidos com comprimento até os joelhos, cuidar da casa, do filho “e um pouco de si”, conforme descreve Juliana Linhares – uma jornalista mulher, curiosamente. A publicação gerou reações, uma infinidade de memes e tomou conta das redes sociais no país. A grande maioria ironizava e criticava a publicação, o que provocou uma discussão sobre o machismo e a condição feminina na sociedade brasileira, e sobre como o patriarcado socializa homens e mulheres. Ficou claro que já estávamos mergulhados numa espiral neoconservadora, que tem trazido retrocessos incalculáveis. Em 31 de agosto do mesmo ano, foi afastada a primeira mulher brasileira eleita para o cargo de poder máximo da nação, a presidenta Dilma Rousseff, para responder a um processo de impeachment que, na verdade, se constituía em golpe. E esse golpe veio marcado por um cenário de horrores misóginos e de extrema violência política. Enquanto escrevo este texto, o Ministério Público Federal decidiu pelo arquivamento do processo aberto contra a presidenta pelas famosas “pedaladas fiscais”. A decisão, tomada pela 5ª Câmara de Coordenação de Revisão de Combate à Corrupção, explicita o fato de que o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Corregedoria do atual Ministério da Economia eliminaram a chance de culpabilização de Dilma e dos então ministro Guido Mantega e secretário do Tesouro, Arno Agustin, também acusados no processo. De acordo com a Vara, o arquivamento foi resultado “seja em virtude da constatação da boa-fé dos implicados, seja porquanto apenas procederam em conformidade com as práticas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão”. Não houve, portanto, crime de improbidade ou de responsabilidade. O que Dilma Rousseff (e a democracia brasileira) sofreu foi um duro golpe parlamentar, jurídico e midiático. Esse ato inconstitucional abriu as portas para outros disparos de morte contra a CF/1988 e também foi por seu intermédio que chegamos, em 2022, a uma das eleições mais cruciais da nossa curta história democrática, toda ela marcada por um clima de violência política extremada e grave.
Universidades: ataques e resistência
A máquina patriarcal racista e neoconservadora que tomou conta do país não tem poupado nem as nossas universidades. Vale lembrar que, numa mesa-redonda realizada pela SBPC na UFMG, em julho de 2017, intitulada Gênero, desigualdades, educação e justiça, a pesquisadora Lia Zanota Machado, da UnB, e as professoras Regina Facchini, do Núcleo Pagu, da Unicamp, e Rozeli Porto, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, demarcaram o avanço do neoconservadorismo moral, mas, desta vez, no que se refere à produção do conhecimento científico no país. Destacaram que os anos de 2014 e 2015 serão lembrados pela articulação de bloqueio e tentativas de mordaça às propostas de discussão sobre o respeito à diversidade sexual e de gênero, após décadas de avanços nesse campo. O que as pesquisadoras reconheceram foi a presença e/ou o ressurgimento de um contramovimento de caráter político, conservador, religioso, tradicional, moralmente tradicionalizante, compartilhado pelas igrejas católicas e protestantes, que introduziu no país a famigerada acusação de “doutrinadoras”, termo atribuído às pesquisadoras da área. Tudo isso embasado no estatuto imaginário da “ideologia de gênero” e na ideia de propagação da “cultura da morte”, esta em referência ao aborto. É fato que a censura ao debate sobre os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres e a tentativa de colocar uma mordaça na boca de professoras e pesquisadoras que estudam e ensinam no campo de gênero e sexualidade estão hoje no centro das disputas negacionistas.
O avanço do neoconservadorismo antigênero no Brasil, mesmo operando em contexto supostamente democrático, fere a cidadania das mulheres do país, já que se concentra, insistentemente, na desqualificação dos feminismos (que se transformou, nesse caldo odiento, até mesmo em “xingamento”) e na defesa de um tipo de moral cristã retradicionalizadora, que ameaça de fato os direitos humanos das mulheres.
Em que pese o transnacionalismo dos avanços das agendas neoconservadoras, estamos vivendo, neste país, ataques políticos em diferentes esferas institucionais (jurídica, parlamentar, entre outras) que ameaçam e constrangem a vida cotidiana das mulheres, comprometendo as conquistas das últimas décadas, em especial a luta por igualdade de gênero, sexualidade e raça. E a maior evidência está na tentativa de impedir a expansão dos direitos humanos das mulheres, já que observamos o interesse na restauração – com caráter de centralidade política – da família patriarcal racista, dos papéis tradicionais de gênero e de sexualidade, tendência antidemocrática do atual projeto político neoconservador.
Nossas universidades públicas, ainda que também sob ataque, têm tentado, com base em inteligência, estratégia, esforço e resiliência, constituir-se em trincheira de defesa aos ataques neoconservadores. Diferentemente de outros níveis, mesmo diante do projeto de pautar o neoconservadorismo como uma “agenda” para a educação, ainda há, no ensino superior, margem para o estímulo ao pensamento crítico e para o aprofundamento dos debates sobre a emancipação e a expansão dos direitos democráticos das mulheres, mais especialmente das negras, LBTs e indígenas. Esse papel é muito importante, pois nele a esperança da democracia do vivido (e não apenas das instituições) se constrói e reconstrói, movendo-se a roda da liberdade a partir das novas gerações de estudantes universitárias feministas e antirracistas. É preciso, no entanto, destacar que isso se dá em um cenário político caracterizado pela regressão dos direitos sociais, em razão do continuado desfinanciamento das políticas públicas, que se deu, especialmente, a partir da aprovação da emenda constitucional de restrição dos gastos públicos, que legitimou um novo ordenamento fiscal no Brasil.
As políticas públicas de gênero (para mulheres e segmentos LGBTQIA+), assim como aquelas de promoção da igualdade étnico-racial, têm sofrido ataques sistemáticos, insidiosos e continuados que reverberam em nossas vidas, já marcadas pela travessia de uma das pandemias mais graves da experiência humana e que tanto retirou das mulheres brasileiras. Sabemos que a reflexão sobre a indissociabilidade entre as políticas públicas de gênero e as de promoção da igualdade racial é, na verdade, um legado fundador das forças ativas da sociedade civil organizadas em movimentos e lastreadas em pesquisas consistentes feitas por nossas universidades, nas últimas décadas, no campo dos estudos de gênero, sexualidade e raça. Fomos nós, feministas e antirracistas, acadêmicas e universitárias, estudantes e professoras, que colaboramos para pavimentar a compreensão científica de que, destacadamente, as mulheres negras e indígenas, as mulheres trans e bissexuais são a fronteira final relativa à urgência democrática de inclusão e expansão da justiça política. Por isso, elas são o alvo preferencial da atual violência política neoconservadora e do processo contrário oriundo da desassistencialização em curso dos nossos direitos sociais.
Seis anos após o golpe, parte significativa dos direitos trabalhistas entrou em colapso, o que resultou numa redução da proteção aos trabalhadores e trabalhadoras, por meio de dinâmicas da terceirização irrestrita, dos reveses da reforma trabalhista e da previdência, sem que o grave problema do desemprego tenha sido resolvido. Assim, as consequências quase sempre acabam recaindo mais fortemente sobre os ombros das mulheres, que diante do desemprego ou do trabalho precário, tentam um equilíbrio impossível. Para tornar o cenário mais dramático, experimentamos dois anos de pandemia de covid-19, que, entre outros impactos negativos, sobrecarregou as mulheres e alçou a violência intrafamiliar a patamares ainda mais elevados.
Destaco um fato ainda pouco debatido publicamente: mulheres formadas no âmbito da UFMG (nas nossas graduações e pós-graduações), ou mesmo no trabalho na Universidade, como servidoras técnico-administrativas ou como professoras, seguem firmes na luta pela representatividade política que nunca chega. Buscam ocupar os espaços parlamentares, entregando-se a uma das campanhas político-eleitorais mais violentas que se tem notícia em todo o mundo. Verifiquem o que digo consultando o histórico acadêmico das mulheres vinculadas às esquerdas progressistas que se candidatam, por Minas Gerais, a deputadas nas esferas estadual e federal. É possível constatar que aqui, entre as paredes das nossas salas de aula, nos nossos laboratórios, nos núcleos e centros de pesquisa e extensão, gestamos as mentes re(i)novadoras de uma política caduca de homens brancos de meia idade, trazendo o frescor da juventude das candidatas indígenas, negras, quilombolas, feministas e muito ciosas dos direitos das mulheres.
Os “senhores da guerra” e a urgência de mais mulheres no poder
Quero aqui lembrar mais um nefasto legado masculino no/do poder. Desta vez, fora do nosso país, mas que, mais cedo ou mais tarde, vai nos alcançar. Fomos todas atropeladas pelos “senhores da guerra” com seu jogo/gozo de poder mortal, quando, após dois anos de peste mundial, desaguamos numa guerra: Wladimir Putin (Rússia), Volodymyr Zelensky (Ucrânia), Joe Biden (Estados Unidos) – e, antes dele, Donald Trump –, o já destituído Boris Johnson (Reino Unido), Aleksandr Lukashenko (Bielorússia), Andrzej Duda (Polônia), János Áder (Hungria), Klaus Iohannis (Romênia), Gitanas Nausėda (Lituânia), Egils Levits (Letônia), Alar Karis (Estônia), Miloš Zeman (República Tcheca), Aleksandar Vučić (Sérvia) e Ilham Aliyev (Azerbaijão), Recep Tayyip Erdoğan (Turquia), todos à frente de governos conservadores, alinhados ao centro ou à direita (alguns de extrema-direita). De outro lado, apenas relativamente, Olaf Scholz (Alemanha), Alexander van der Bellen (Áustria), Rumen Radev (Bulgária), Zoran Milanović (Croácia) mais alinhados à centro-esquerda e a partidos ambientalistas que vão, afinal, decidir, junto com o presidente da China comunista, Xi Jinping, os destinos mundiais.
Entre tantos “senhores da guerra”, figura uma única “senhora”, Zuzana Čaputová (Eslováquia), do partido social-liberal Progresívne Slovensko (PS), advogada e ativista ambiental, eleita em 2019. Trata-se da primeira mulher a ocupar o cargo presidencial na Eslováquia.
Em artigo publicado no site Esquerda, o professor Jorge Martins, define Zuzana como “liberal em questões econômicas e defende um maior apoio às empresas, embora afirme querer um maior investimento na educação e na saúde; pró-ocidental em política externa, sendo abertamente pró-UE e pró-NATO e crítica de Trump e Putin, não reconhecendo a anexação da Crimeia pela Rússia; tolerante em matéria de costumes, sendo favorável à atual lei do aborto, que o legaliza, e à consagração de uniões civis para os casais LGBTI; em matéria de imigração, refugiados e minorias, é igualmente tolerante, defendendo uma maior abertura, sendo crítica das posições do ‘grupo de Visegrado’, de que a Eslováquia faz parte, e adepta da promoção dos direitos das minorias nacionais (em especial, a húngara) e dos ciganos; defensora do ambiente, defendendo um desenvolvimento sustentável e uma política de combate às alterações climáticas”.
Foram os homens que decidiram ir à guerra ou que vão decidir sobre os destinos dela. Um jogo de poder masculinizado, bélico, viril, conservador, liberal e pró-mercado, fascista, que pode legar a todas nós (e muito especialmente às futuras gerações) se não uma terceira guerra mundial, no mínimo, uma nova crise econômica global. Isso, ressalta-se, depois de uma pandemia que custou quase seis milhões de vidas em todo o mundo.
Para mim, a conexão entre os dois temas dessa discussão é clara: é tão urgente quanto essencial o direito de eleger mais mulheres para as presidências dos nossos países ao redor do mundo (ou o direito de deixá-las governar em paz), o direito de eleger mais mulheres não alinhadas às forças do patriarcapitalismo. Se assim fosse, talvez não tivéssemos chegado até aqui, no limiar da nossa própria extinção pelas mãos masculinas, brancas e coloniais.
Em se tratando de Brasil, 200 anos após um movimento de “independência”, ainda não é possível afirmar que nós, mulheres, sejamos independentes, já que não nos deixaram ser livres e, insisto, não sairemos íntegros/as desses tempos de sombra, mas poderíamos, por certo, ter construído um futuro menos devastador especialmente para as nossas filhas (e para os filhos). Teríamos, certamente, um futuro melhor se, na liderança, estivessem presentes mais mulheres que reconhecem as lutas das mulheres e se identificam com elas; mais mulheres, de fato, comprometidas com necessária e urgente mudança dos rumos da economia e da política mundiais, ousando desmontar as engrenagens brancas masculinas do patriarcapitalismo global financeirizado, que corrói o planeta, as nossas democracias, as nossas riquezas, os nossos corpos e, agora, a nossa paz.
Não tenho certeza de que ainda haja tempo para tal mudança, mas tenho plena convicção de que essa é a nossa derradeira e mais significativa aposta. Tenho certeza também que o conhecimento científico, não aquele da guinada euromasculinocêntrica do racionalismo colonial moderno, burguês e ocidental, supostamente “neutro”, mas o que vem sendo construído pelas mentes e pelas práticas feministas negras, indígenas, comunitárias é parte fundadora dessa urgência de transformação. Que as forças ancestrais dessas lutas por emancipação e libertação nos inspirem a escolher melhor nossas representantes e governantes. E que a roda do tempo permita que esse futuro se realize, mas sempre com cada uma de nós e nunca mais sem todas nós.
*Professora associada do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher (Nepem) da UFMG