| |
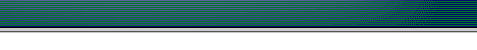  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1518 - Ano 32
16.02.2005

Desracializar o debate*
Roseli Fischmann **
![]()
último Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU demonstra que há dois “Brasis” convivendo – um branco e um negro –, entre os quais se abisma um fosso de desigualdade. Contudo, é freqüente ouvir que reivindicações dos afro-descendentes seriam tentativa de racializar o debate e a sociedade brasileira, que, sem isso, seria igualitária e harmônica. E complementam: é necessário “desracializar o debate” para haver avanços. É mesmo necessário desracializar o debate, mas no sentido inverso: é preciso haver mais negros no debate. É simples constatar que a presença em cena pública é predominantemente branca, de formação européia. Há nuanças de tipo étnico ou religioso, mas de registro semelhante.
Se o Brasil tem 46% de afro-descendentes, compreender o país implica compreender quase metade de sua gente, por sua própria voz, sem intérpretes. Na Microfísica do poder, Deleuze afirma a Foucault: “A meu ver, você foi o primeiro a nos ensinar – tanto em seus livros quanto no domínio da prática – algo de fundamental: a indignidade de falar pelos outros”.
Negros e negras em postos de autoridade pública são em quantidade mínima, em especial ao considerar quem representam no conjunto da população brasileira. Esse fato interfere no exercício do poder e na construção democrática, que, sem a presença efetiva da população brasileira representada, será de menor qualidade. Se a cor da pele não interfere na dignidade humana, não é justo que interfira na possibilidade de expressão e voz. Trata-se de requerimento democrático, sem o qual podemos construir interpretações homogeneizadoras, que chegam já filtradas pela condição existencial de cada um.
Variações da temática estão presentes em exemplos muitas vezes trágicos, como na crise atual referente às caricaturas depreciadoras do Islamismo. Utilizar, como base de suposto humor ou de crítica direta, elementos estigmatizadores que funcionam como identificação de um grupo humano é brutalidade que se percebe apenas quando ocorre na própria pele – e muitas vezes nem assim –, quando se assume em relação a si mesmo uma atitude estigmafóbica, como define Erving Goffman.
Sabemos gritar quando nossos valores são atingidos, mas banalizamos o sofrimento alheio, de quem vê exposto à execração pública o que tem de sagrado. Atribuímo-nos o direito de decidir o que é ou não fonte de sofrimento para o outro, sem abrir espaço para a escuta, em um processo de exclusão que incita o ódio mútuo.
É também freqüente a negação quando, em quadros comparativos de padrões de beleza no Brasil, coloca-se como avaliação perene dos indígenas a de 500 anos atrás, na visão de Pero Vaz de Caminha, ignorando a existência de padrões estéticos entre os indígenas, naquele tempo e agora. Ou na televisão (em que pese o relevante merchandising social), como na novela América, da Globo, em 2005, em que atores foram chamados para interpretar portadores de deficiência visual no papel principal, enquanto quem vive a deficiência foi relegado a papel secundário, de certa forma repetindo a lógica do passado.
São detalhes de um modo de ser e de ver a que nos acostumamos com autobenevolência, porque a presença do outro a falar de seu próprio entendimento e anseio causa desconforto, nos arranca do sentimento que nos permitimos de estar em casa e à vontade em um mundo que se apresenta predominantemente ou hegemonicamente “nosso”. Um “nós” excludente, que, além de atingir indivíduos, atinge a democracia.
Theodor Adorno, no clássico Personalidade autoritária, demonstra que há identidade entre os que legitimam o autoritarismo e os que discriminam em razão de raça, etnia, gênero, religião, presença de deficiência, origem social, nacional. Por isso, argumenta, a pluralidade humana é a face visível do pluralismo político, base da democracia. Segundo Adorno, cabe às políticas de fortalecimento da democracia promover a pluralidade em espaço público, sendo um dos meios a educação para e pelo convívio na escola.
Ele ressalta que a única forma de derrubar preconceitos e discriminação é com a presença direta dos que são alvos dessa exclusão, esclarecendo e ensinando sobre si mesmos no cotidiano. Daí o benefício de abrigar, na esfera pública, vozes e cores que trazem realidades, sentimentos e opiniões com que os predominantes não estão acostumados a lidar. Essas vozes e cores poderão ajudar a arrancar de toda autocomplacência e de todo conformismo quem vive cego e insensível à brutal desigualdade e exclusão que construímos, com pontos de vista acomodados e confortáveis.
Assim, ganharemos em criatividade e poder como seres humanos, lançaremos novas perspectivas para a democracia e seremos os grandes beneficiários de um gesto que, a princípio, pareceria desterrar-nos do lugar que merecemos. Mas porque merecemos todos bem mais do que hoje temos, desracializar o debate já é a questão.
* Artigo publicado na Folha de S.Paulo, em 8 de fevereiro
** Professora do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da USP
Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 4.000 a 4.500 caracteres (sem espaços) ou de 57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. |