| |
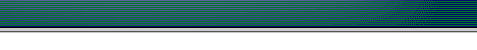  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1622 - Ano 34
22.08.2008

Ricardo Bandeira
É sabido que o governo dos Estados Unidos ajudou a derrubar o presidente brasileiro João Goulart, em 1964, e a instalar no país uma ditadura que se arrastou por 21 anos. A influência norte-americana no golpe está documentada até mesmo nos arquivos do serviço secreto dos EUA. Bem menos conhecida é a história dos ativistas daquele país que militaram contra a ditadura no Brasil. Além de proteger exilados e denunciar a tortura, contribuíram para que o governo dos EUA reduzisse o apoio aos militares brasileiros.
É a essa segunda parte da história que se dedica o pesquisador norte-americano James Green, um dos mais importantes brasilianistas da atual geração e seguidor da tradição de estudiosos como Thomas Skidmore. Professor de História do Brasil e diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brown, em Rhode Island (EUA), Green prepara o lançamento, para o ano que vem, de um livro sobre o assunto.
Na avaliação dele, os militantes norte-americanos tiveram influência na abertura política. “Quem pressionou Jimmy Carter foram esses ativistas”, afirma, numa referência às críticas que o então presidente norte-americano fez, em 1978, à violação dos direitos humanos no Brasil.
O próprio Green participou, nos anos 70, da militância que agora pesquisa. Ele é autor, também, de livros sobre o movimento gay no Brasil. Um deles, Além do Carnaval: a Homossexualidade no Brasil do Século XX (editora Unesp), ganhou três prêmios. Green viveu em São Paulo de 1976 a 1982 e fundou o Somos, primeiro grupo gay do país. Na mais recente visita ao Brasil, no fim de junho, o historiador fez uma palestra no Departamento de História da Fafich e concedeu a seguinte entrevista ao BOLETIM.
Quem eram os militantes que fizeram campanha contra a ditadura brasileira?
Era uma combinação de pessoas. Alguns eram brasileiros exilados, porém havia poucos deles, porque o governo norte-americano não recebia os brasileiros naquela época. Havia militantes revolucionários que, por outras razões, estavam nos EUA. Havia um grupo de clérigos, católicos e evangélicos. Havia estudantes, algumas pessoas que tinham morado no Brasil, alguns missionários. Eram brasileiros e americanos.
Qual foi o impacto dessa militância?
Ela ajudou bastante. Há várias análises sobre a questão da democratização, mas muitos consideram que, direta ou indiretamente, Jimmy Carter pressionou os militares. E quem pressionou Jimmy Carter foram esses ativistas. Eles também conseguiram informar o público americano e os congressistas sobre o que ocorria no Brasil. Deixando muito claro: Carter representava uma política norte-americana de hegemonia mundial, não que ele tenha sido o salvador da América Latina. Só que ele abriu uma possibilidade, uma brecha, e a oposição democrática brasileira aproveitou isso para pressionar [o presidente brasileiro Ernesto] Geisel.
Como os governos norte-americanos anteriores reagiram às pressões dos militantes?
[O presidente norte-americano Lyndon] Johnson apoiou totalmente o golpe. Ele deu ajuda militar e econômica à ditadura e recebeu [o presidente do Brasil Arthur da] Costa e Silva na Casa Branca, antes da posse. Quando [o presidente norte-americano Richard] Nixon assumiu, em 1969, seguiu essa linha política. Foi a partir de 1972/73 que começou dentro do Congresso dos EUA uma campanha de pressão para que fosse cortada a ajuda a países que violavam os direitos humanos.
Qual era a orientação política dos ativistas?
Eram de esquerda ou liberais. Vários intelectuais, incluindo os brasilianistas mais famosos, eram liberais, não eram de esquerda. O melhor exemplo é Thomas Skidmore, que foi fundamental nessa campanha. Ele apresentou uma moção de repúdio ao governo brasileiro em um congresso de estudos latino-americanos em Washington, em 1970. Isso foi muito importante, porque deu legitimidade a vozes da esquerda que denunciavam a tortura, e o governo brasileiro dizia que não, que era mentira, que era coisa do movimento comunista internacional. Por causa disso, o governo brasileiro puniu Skidmore, impedindo-o de entrar no país para fazer pesquisas.
Os militantes que condenavam a violação de direitos humanos no Brasil faziam o mesmo com relação à ditadura em Cuba?
Eu diria que a maioria tinha uma certa simpatia por Cuba, embora outros tivessem dúvidas sobre a questão dos direitos humanos, sobre a discriminação contra homossexuais e setores dissidentes. Mas eu acho que a esquerda dos EUA ainda estava em clima de euforia, porque a Revolução Cubana era muito recente.
Até quando durou a militância contra o regime militar brasileiro?
A última campanha importante foi de solidariedade às greves do ABC paulista. No começo dos anos 80, um grupo de pessoas produziu um boletim sobre o movimento sindical brasileiro. Elas conseguiram assinaturas de sindicalistas americanos contra a prisão do [então líder sindical, hoje presidente] Lula.
No Brasil, continua a haver desrespeito aos direitos humanos, como nas delegacias de polícia. Existe, nos EUA, algum movimento disposto a denunciar esses crimes?
Existe, mas eu acho precário, e vou dizer uma coisa: quando Lula foi eleito, eu e outras pessoas organizamos uma rede nacional para informar o público americano sobre a nova realidade brasileira. Mas foi muito difícil mobilizar as pessoas. Elas diziam: ‘Agora o Lula foi eleito, é um governo de esquerda, para que solidariedade? Os brasileiros estão bem’. Eu acho que a questão da tortura atingia a sensibilidade da classe média norte-americana porque era injusta, mas também porque as pessoas se identificavam com os torturados. Eram da mesma classe social e também ativistas. É um pouco diferente de se mobilizar porque uma pessoa pobre está sendo maltratada pela polícia.