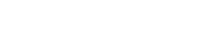(Imagem em destaque retrata demolição de favela no Rio de Janeiro. Arquivo EBC)
A atual inflexão do Brasil em direção ao conservadorismo e ao obscurantismo não chega a surpreender o filósofo Renato Janine Ribeiro. “Essas coisas, no Brasil, são fruto de muito tempo de uma construção criteriosa, pormenorizada, esforçada da desigualdade”. Na manhã de terça-feira, 18, a partir das 10h30, no auditório da Reitoria, o professor de ética e filosofia política da USP vai ministrar uma conferência na Reunião Anual da SBPC. Nela, Janine fará um balanço da conjuntura política brasileira e mundial.
Ministro da educação do governo de Dilma Rousseff de abril a outubro de 2015, o filósofo vai falar com base em sua trajetória acadêmico-intelectual e em sua experiência como “intelectual público”, considerando o período em que esteve à frente da pasta de educação. Janine também atuou, entre 2004 e 2008, como diretor de avaliação da Capes, cargo que, em mais de uma ocasião, colocou-o à frente das avaliações trienais dos mais de 2.500 cursos de mestrado e doutorado do Brasil.
Na entrevista a seguir, Janine fala sobre o estratégico papel de valoração e “de tradução do complexo no simples” que cabe aos intelectuais que se propõem a integrar governos. Além disso, o filósofo se aprofunda na discussão sobre a resiliência das estruturas de desigualdade do país. “Quando uma política de inclusão é malsucedida, isso não significa que ela não deu certo, mas, sim, que deu certo e continua dando muito certo a política de exclusão”.

O senhor nomeou a conferência que fará de Balanço e perspectivas na política brasileira e mundial. Que leitura faz da conjuntura atual?
O atual cenário político brasileiro e mundial é muito preocupante. Até dois anos atrás, no Brasil e no mundo, havia a impressão de que não haveria volta para certas conquistas que se havia obtido. Os Estados Unidos, por exemplo, tiveram um presidente negro que fez uma série de avanços, dentro do que era possível: venceu onde Hillary Clinton havia perdido, aprovou o Obamacare [lei federal que ampliou o acesso dos cidadãos dos EUA à cobertura de saúde]. Mas houve a vitória – em certo ponto de vista absolutamente inesperada – de Trump, uma pessoa totalmente despreocupada com a verdade, e que recentemente havia dito coisas muito obscenas sobre a sua relação com as mulheres. No caso do Brasil, estávamos praticamente seguros de que a democracia estava consolidada, essa democracia que foi tão difícil de obter; que ninguém chegaria ao poder se não fosse pelo voto direto. Contudo, caiu o governo. Era um governo que estava, sem dúvida, impopular, e que caiu após manifestações grandes, mas que caiu, de qualquer forma, com um problema muito sério de legitimidade nessa destituição. Ao mesmo tempo, outro pilar que aparentemente havíamos conquistado, que era o da inclusão social, também foi ameaçado. Antes eu dizia que, se tivesse efetivamente a vontade de ganhar, ninguém concorreria a um cargo do Executivo – presidente, governador, prefeito – sem ter um projeto de inclusão social. Até Serra, Alckmin, Aécio, cujo partido criticava e zombava do Bolsa Família, passaram a defender o programa. Parecia haver um consenso sobre isso, mas agora tudo está em risco, seja a democracia, seja a inclusão social.
Que horizonte o senhor enxerga? Vislumbra algo de positivo? Em algum lugar…
Temos um retrocesso brasileiro e mundial, que são paralelos. Mas não é um retrocesso total, afinal, houve o Brexit, houve o Trump, houve o Temer, mas também houve a vitória de Macron na França, existe o governo de esquerda em Portugal, onde, pela primeira vez, o partido socialista tem o apoio da esquerda. Os resultados desse governo estão sendo bons. Nesse sentido, não está tudo em uma só direção. De toda forma, é muito preocupante o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. O que ocorre por lá ameaça a paz mundial.
Quais são as perspectivas para as esquerdas, mais especificamente?
Boa parte da esquerda brasileira está pensando em que nome poderia eleger para a presidência da República em 2018, deixando de lado a questão principal: qual programa vai ter. É um erro grande. Nos primeiros anos de governo do PT, com o Lula à frente da presidência, as alianças à direita fortaleceram o governo, em vez de enfraquecê-lo. No entanto, a partir de certo momento, houve um enfraquecimento geral do governo. Muita gente que é de esquerda está agora condenando essas alianças, dizendo que elas não deveriam existir. Essa é uma análise superficial. De fato, a partir de certo momento, as alianças ficaram duvidosas, mas elas foram a condição de o governo Lula funcionar. Temos de considerar também a questão de que Lula governou num período de bonança mundial, com os preços das commodities altos, o Brasil exportando. Ele soube usar isso muito bem, tanto nos programas de educação e saúde quanto na realização de uma diplomacia externa ativa e altiva, como dizia o ministro Celso Amorim. Essas condições não existem mais, não existe mais essa prosperidade. Assim, vejo que nós teremos de atuar de outra maneira: não basta mais voltar um Lula 3: Lula até pode ser o Presidente da República eleito no ano que vem, mas não com a mesma plataforma. Nesse sentido, o que me preocupa muito é que se discute quem será o candidato da esquerda, se será ele, se será o Ciro Gomes, mas pouco se discute o que esse candidato fará.
Que cenário o senhor encontrou quando assumiu o Ministério da Educação?
O que eu notei é que era preciso fazer mais com menos: nós não tínhamos mais dinheiro. Então precisávamos mudar de uma posição em que houve muito dinheiro – que foi em boa parte bem aplicado – para uma posição em que tínhamos de contar os centavos e na qual era fundamental avaliar se as políticas em andamento estavam funcionando. Um grande exemplo é o Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), uma ideia genial de se estimular a docência. Os alunos de graduação eram incentivados a ir para a iniciação científica, um futuro mestrado, talvez doutorado, o que os desestimulava a dar aulas na escola pública. Então o Pibid era uma grande ideia para combater isso, e que internamente funcionou bem. Problema único: dos egressos do Pibid, segundo dados da Capes, só 18% foram ensinar na rede básica pública. Então era em relação a casos como esse que eu dizia: vamos rever a fiação; vamos ver por que as luzes não estão acendendo, mesmo com todas as tomadas colocadas. Porque essas coisas, no caso do Brasil, são fruto de muito tempo de uma construção criteriosa, pormenorizada, esforçada da desigualdade. O Brasil é um campeão na construção da desigualdade. E também são fruto de algo que me preocupa muito, que é a pouca efetividade do estado até mesmo para fazer com que as “fiações” funcionem bem.
Como foi a sua experiência de pesquisador-acadêmico, trabalhando no governo? Qual o nível de autonomia que um intelectual consegue manter em relação à hierarquia político-institucional a que está inevitavelmente submetido?
Fui convidado ao Ministério da Educação nestas condições: sendo alguém que tinha acabado de dar uma entrevista à Revista Brasileiros, na qual dizia que o fato de Dilma não prestar contas à sociedade e ter dado um verdadeiro cavalo de pau depois da eleição, mudando completamente o que tinha prometido, eram sinais de pouco apreço dela pela democracia. A presidente Dilma me convidou sabendo disso e me disse que eu não precisava explicar nada. Achei muito decente da parte dela. Mas eram minhas posições. Eu nunca fui filiado a nenhum partido, seja ao PT ou a qualquer outro. Minha simpatia sempre foi pela esquerda, desde a adolescência – daí um governo preocupado com a redução da desigualdade social e com o fim da miséria ter a minha simpatia.

Em longo prazo, é possível a um intelectual que integre um governo se manter suficientemente independente no que diz respeito aos seus investimentos intelectuais, sem se deixar reduzir a um intelectual orgânico?
Eu não gosto nada desse conceito de intelectual orgânico do Antonio Gramsci. O intelectual precisa ter uma responsabilidade muito grande com algo que poderíamos chamar de “verdade” ou “valores”, e isso significa que, muitas vezes, ele precisará entrar em conflito com os valores que supostamente seriam os do seu grupo. Ser intelectual supõe, antes de mais nada, ser capaz de se mostrar independente das coisas a que supostamente se ligou. O intelectual tem de ter essa autonomia, essa independência. Nesse sentido, eu prefiro o conceito de “intelectual público”.
Que ressalvas tem ao conceito de intelectual orgânico?
Eu penso que o Antonio Gramsci é muito interessante para se pensar sobre a importância da conquista da hegemonia, a importância da conquista dos corações e das mentes de uma população – o que é tão ou mais importante que a conquista armada. Afinal, a força dura pouco tempo, as mentes duram muito. Contudo, a ideia de que seria desejável um intelectual ser “orgânico” a uma classe social, no caso revolucionária, me traz muitas dúvidas – até porque o conceito de revolução foi extremamente pervertido ao longo do século 20. Revoluções que pareciam positivas, como as socialistas, comunistas, acabaram gerando ditaduras terríveis, então o intelectual que não as denunciasse estava, de certa forma, deixando de lado os valores do intelecto.
Do que falamos quando falamos em “intelectual público”?
Quando tomei posse no MEC, pedi a Antonio Candido que fizesse uma apresentação minha. Ela pode ser encontrada na internet. Nessa apresentação, Candido fala do “intelectual público”, da importância de alguém que discute publicamente as coisas. Eu admiro essa posição. Entendo que o intelectual público é aquele que discute o valor das coisas, com base no conhecimento efetivo delas. Ele sai do seu trabalho estrito, fechado, entre quatro paredes, e vai ao espaço público: tem um papel de tradução do complexo no simples, um papel de conhecimento, mas sobretudo um papel de valoração; um papel de dizer quais políticas são corretas, quais políticas são incorretas, o que se pode e o que se deve fazer.
É possível exercer esse papel de que Candido fala no real contexto político brasileiro?
Isso é bem complicado, porque a sociedade brasileira está extremamente tomada pela desigualdade, e as medidas que visam coibir a desigualdade podem ser elas mesmas apropriadas pela desigualdade. O Ciências sem Fronteiras é um exemplo disso. O programa acabou beneficiando mais as pessoas que estavam na metade mais rica da sociedade do que aquelas que estão na metade mais pobre. Esse é um balanço que a gente pode fazer dos governos petistas na educação: a coisa ficou mais “redonda” na expansão do ensino superior e da própria pós-graduação do que na educação básica. Foi um ótimo investimento, mas as pessoas do canto superior da desigualdade se beneficiaram mais.
Por que não houve investimento no ensino básico?
É muito mais fácil mexer no ensino médio, que tem oito milhões de alunos. Além disso, 85% dele dependem dos 27 secretários de estado; é fácil reunir toda essa turma. Então é muito mais fácil mexer nele do que no ensino fundamental, que conta com dezenas de milhões de alunos espalhados por 5.570 municípios.
Foram seis meses de Ministério da Educação e, antes disso, quatro anos como diretor de avaliação da Capes. Quais foram, na prática, as principais dificuldades que o senhor enfrentou nessas ocasiões?
Foi bem difícil, dentro do governo, lidar com as estruturas autoritárias que lá havia; a falta de diálogo, a hierarquia muito pronunciada do governo em relação aos subordinados. De toda forma, em certos setores, como a Capes, o CNPq, o Ministério da Educação, mesmo, existe um cuidado maior em relação a isso. Mas esse é um problema que talvez tenha sido agudo naquela ocasião [do ministério]. Já o governo atual tem outros problemas, muito mais graves que aquele. Quando você vive discutindo teorias, ideias, é muito bom conviver com a prática. O poder possibilita fazer coisas em grande escala. É incrível o que se pode fazer; ao mesmo tempo, as restrições são grandes.
Quais as principais diferenças do dia a dia no governo em relação ao cotidiano na academia?
Para o pesquisador universitário, a diferença é a seguinte: na academia, ninguém lhe dá ordem. Mesmo quando dão, são discretos: “por favor”, “pode fazer?”, “poderia?”, “o que acha de…?” No governo, em contrapartida, os verbos no imperativo são mais usados. Portanto, você sai de uma situação de grande autonomia na pesquisa para uma situação hierárquica. Isso tem seus custos, às vezes, até em termos psicológicos, emocionais. Mas tem suas vantagens, que é o fato de que você pode fazer algumas coisas acontecerem.

Que lições o senhor tirou dessa experiência?
O que mais me chamou a atenção é que é muito difícil mudar as coisas. Essa não é uma questão apenas do governo, mas do Brasil, mesmo. O Stephen King tem um romance, Novembro de 63, em que alguém encontra uma máquina do tempo e tenta voltar ao período anterior ao assassinato de John Kennedy, em Dallas, para impedir que houvesse o assassinato e, consequentemente, evitar a Guerra do Vietnã. Toda vez que o personagem se aproxima de alcançar êxito, surgem imprevistos muito fortes, e, mais de uma vez, ele diz: “o passado é muito resistente.” Foi isso que eu senti no governo. É muito resistente a estrutura de desigualdade social, de exploração do homem pelo homem, que existe no Brasil. O Brasil foi planejado para isso. Então, quando uma política de inclusão é malsucedida, isso não significa exatamente que a política de inclusão não deu certo: significa é que deu muito certo, dá muito certo e continua dando muito certo a política de exclusão. Essa política, para você reverter, demanda um esforço danado.
Após trabalhar para o governo, o senhor passou a ter mais ou menos esperança em relação à possibilidade de o país superar suas tradições perversas, como o mandonismo, o coronelismo, o paternalismo, as práticas clientelísticas, a corrupção, o “familismo”, o costume de se transformar questões públicas em privadas?
O mandonismo, o coronelismo, o paternalismo, o clientelismo, a corrupção, tudo isso faz parte de um projeto de Brasil muito bem-sucedido ao longo de quase 500 anos. Desde as capitanias hereditárias, de mil quinhentos e trinta e poucos, até a virada do século 20 para o 21, essa foi a linha que o Brasil seguiu – exceção feita ao segundo governo de Getúlio Vargas, em 1950, ao breve governo João Goulart e aos governos de Lula e Dilma. Na verdade, já com Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso há uma mudança de projeto em uma direção mais progressista. Contudo, em geral, a sequência do país é essa. Nesse sentido, o problema nem é o sistema político, o fato de termos políticos clientelitas, de termos um sistema atrasado, de termos as profissões jurídicas, nas carreiras de estado, muito conservadoras: o problema é que tudo isso faz parte de um projeto de Brasil que existiu, que existe e que continua muito forte. Enquanto não conseguirmos substituir esse projeto tão bem realizado ao longo dos 500 anos de Brasil por um projeto mais igualitário, mais democrático, o Brasil vai continuar muito aquém de suas possibilidades. Nós seguiremos com um quarto, um terço da população tendo todas as oportunidades, e o resto tendo muito poucas. Tudo isso faz com que o rendimento do Brasil seja muito pequeno.
Qual é o papel da elite político-econômica nesse processo?
Essa elite que defende seus privilégios contra a invasão dos pobres nos seus espaços, sejam os aeroportos, sejam as faculdades de medicina; essa elite que prefere seus privilégios à ideia universal de direito – privilégio é uma lei privada, direito é por definição universal –, é, no fundo, muito medrosa. Ela sente que, havendo uma concorrência justa, de igual para igual, ela perde. Por isso, cria todos esses óbices, por exemplo, contra o acesso dos mais pobres ao sistema universitário, contra a melhora de vida de todos. Ela sabe que, havendo igualdade de oportunidades, não vai continuar levando as vantagens absurdas que leva. Então esse é o grande problema, mais do que o governo, propriamente. O governo é parte de um Brasil conservador, que tem de ser mudado.