| |
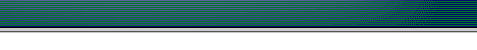  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1775 - Ano 38
14.5.2012
Cristiano Rodrigues*
Após a histórica decisão do STF que declarou a constitucionalidade das cotas nas universidades federais, fiquei pensando sobre o seu significado para o país, para a população negra e, particularmente, para a vida de tantos negros com os quais tenho tido o privilégio de conviver e partilhar experiências de vida. E, óbvio, qual o significado para minha própria história pessoal. Eu e as cotas? Muda alguma coisa?
Quase toda pessoa negra que chegou à universidade sabe o que é ser a única, a primeira ou uma das poucas pessoas negras da sala, da escola, da faculdade. E vive na pele os efeitos de um sistema educacional que reproduz, às vezes inadvertidamente, velhos clichês sobre o lugar social do negro e vão minando a sua autoestima e capacidade de prosseguir. É a produção racializada do fracasso escolar. Os poucos que resistem o fazem às expensas de uma identidade fragilizada, dilacerada pelas pequenas (grandes) humilhações cotidianas.
Desde que entrei na escola, via menos negros comigo a cada série que avançava, até que, como num passe de mágica, de metade da sala éramos apenas dois ou três. O sentimento de vazio e isolamento crescia conforme eu galgava novos degraus.
A escola tampouco contribuía para dar sentido ao caos existencial que eu vivia. Entre a primeira série e o doutorado, 22 anos se passaram, e eu tive apenas uma professora negra. Como me sentir acolhido, respeitado e representado em espaços nos quais pessoas como eu estavam praticamente ausentes?
Mas voltemos à Ângela, minha professora de artes da sexta à oitava série. Lembro perfeitamente do jeito exigente e afetuoso com que se dirigia a mim. Ângela foi a primeira pessoa a quem mostrei poemas e textos que escrevia, quando ainda sonhava em me tornar um escritor. Foi a única a me incentivar, quando na oitava série anunciei que tentaria o vestibulinho para a escola técnica mais concorrida da cidade. Os demais professores diziam que era uma perda de tempo, melhor seria me matricular em um curso noturno e arrumar trabalho no supermercado perto de casa. Aprovado no tal vestibulinho foi à porta da Ângela que eu bati para celebrar e agradecer.
Na nova escola, de classe média, a sensação de isolamento era maior. Era o único negro da turma e um dos poucos na escola. Foi também o início da minha percepção de que ser negro seria um obstáculo para que eu vivesse coisas banais para os adolescentes brancos. De namorar a pular a catraca do ônibus sem pagar, tudo era mais difícil, cheio de nuances e não ditos que tentavam me restituir – ou instituir – a um lugar de subalternidade.
Graças ao professor de algoritmo e lógica computacional quase abandonei a escola. Foram quatro horas ininterruptas de aula permeadas por incontáveis piadas racistas. Ao dizer que me sentia ofendido com suas piadas, ele me afirmou não poder ser racista, afinal era casado com uma afrodescendente, e que não se sentiria ofendido caso eu saísse da sala quando ele contasse piadas.
Sobrevivi ao ensino médio e, em 2000, realizei um grande sonho e entrei na UFMG. Lá meu mundo se expandia e eu encolhia. Nós, os poucos negros no campus, instintivamente, agarrávamo-nos uns aos outros como náufragos em pedaços de madeira. Havia muita troca, discreta, de sorrisos solidários pelos corredores, compartilhando o orgulho de ter chegado ali.
Em 2002 iniciou-se, de forma incipiente, o debate sobre cotas dentro da Universidade. Eu, tão versado no tema quanto meus colegas brancos, era o primeiro a ser solicitado a emitir uma opinião. Como se ser negro já fizesse de mim um especialista em questões raciais, e raça fosse um marcador unilateral. A emergência do debate teve, contudo, um saldo positivo. Grupos de estudo e experiências de políticas afirmativas foram surgindo, e um espaço de solidariedade mais explícita entre os estudantes negros da Universidade foi se consolidando.
Após o mestrado beneficiei-me de um programa de ação afirmativa da Fundação Ford. O programa me deu oportunidade de preencher várias lacunas da minha formação educacional. Assim, pude fazer minha pesquisa de doutorado em três países, adquirir fluência em outra língua, comprar livros, me dedicar integralmente aos estudos e participar de vários congressos. Coisas que numa situação normal eu não teria sido capaz de fazer.
Hoje eu entendo melhor a minha escolha pela docência dentre as opções que tive. Eu vejo como ser um professor universitário negro, no Brasil, faz uma diferença, ainda que mínima, na vida dos meus alunos. Especialmente para os estudantes negros. Há maior liberdade para se tocar em assuntos tabus e para compartilhar suas dificuldades e experiências de sofrimento, mas também de vitória e superação. Eu não ressinto não ter tido mais professores negros, mas me regozijo com a possibilidade de ter com alguns desses estudantes um elo como aquele se estabeleceu entre mim e Ângela.
Espero que as próximas gerações de universitários negros não venham de um processo de fragilização de sua identidade, que mais opções estejam postas para eles. Que, para além de uma professora negra, eles tenham tido a oportunidade de conviver com médicos, dentistas, engenheiros e cientistas negros. Que a presença desses profissionais na vida dos meus futuros alunos não tenha sido um fato excepcional, marcante pela sua exoticidade, mas comum, assim como é comum ver negros servindo mesas e limpando assoalhos.
As cotas não trarão de volta à escola os colegas negros que fui perdendo ao longo do caminho, não reverterão as noites que passei chorando e me achando um ser humano inferior, não impedirão a ocorrência de pequenas humilhações pelas quais nós, negros, passamos diariamente. Mas pavimentam o sonho de um país mais igualitário.
*Professor do Cefet-MG, é graduado em Psicologia na UFMG e doutorando em Sociologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).