| |
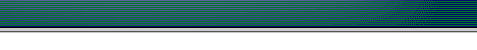  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1701 - Ano 36
28.6.2010

Marcos Fabrício Lopes da Silva*
No mundo real, a vida é uma surpresa, e a morte é surpreendente. Na ficção, a morte pode ser surpreendida pelas surpresas da vida. Sabia muito bem disso José Saramago, falecido, no último dia 18, aos 87 anos, em consequência de falência múltipla dos órgãos. Prêmio Nobel de Literatura, em 1998, o escritor português soube magistralmente decompor os clichês ideológicos acerca da vida e da morte. Em As intermitências da morte (2005), Saramago trouxe considerações inteligentes sobre o papel e o discurso da mídia em relação ao inusitado fato deflagrador do enredo: a cessação da presença da morte em uma sociedade por sete meses. Ao narrar esse fato absurdo, o autor parte do momento de glória da descoberta da eternidade para o caos generalizado de um mundo em que a vida não experimenta a finitude, o que traz colapsos coletivos de toda ordem. A forte presença e a voz dos meios de comunicação de massa se fazem presentes desde o primeiro momento em que o acontecimento discursivo do não-morrer é descoberto:
“Em poucos minutos, já estavam na rua dezenas de repórteres de investigação fazendo perguntas a todo o bicho- -careta que lhes aparecesse pela frente, ao mesmo tempo que nas fervilhantes redacções as baterias de telefones se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores. Fizeram-se chamadas para os hospitais, para a cruz vermelha, para a morgue, para as agências funerárias, para as polícias, para todas elas, com compreensível exclusão da secreta, mas as respostas iam dar às mesmas lacônicas palavras. Não há mortos.”
“O telefone tocou, era o ministro do interior, Senhor primeiro-ministro, estou a receber chamadas de todos os jornais, disse, exigem que lhes sejam fornecidas cópias da carta que acaba de ser lida na televisão em nome da morte.”
A pretensão da mídia de escutar todas as vozes, de checar todas as fontes, de consultar todos os envolvidos e de ter rastreado todos os vestígios do fato combina-se com a possibilidade de circulação instantânea dos relatos, transmitidos por um forte aparato tecnológico, ou seja, pelas “baterias de telefones” que “se agitavam e vibravam em idênticos frenesis indagadores”. As “dezenas de repórteres de investigação fazendo perguntas a todo o bicho-careta que lhes aparecesse pela frente” mostram a conexão das vozes que circulam no espaço público, locus de observação e fiscalização da realidade, e daquelas que se encontram em um lugar mais reservado, a saber, a redação do jornal, lugar das várias vozes entremeadas em um só dizer. Há, ainda, o efeito de a mídia, como “Quarto Poder”, se considerar suficientemente poderosa para cobrar qualquer informação de qualquer órgão ou pessoa a qualquer momento, exigir documentos e colher dados até mesmo da morte.
O poder mágico da mídia, em matéria de onipotência e onipresença, corporificase na formulação “como antigamente se dizia da divindade” e combina-se com a voracidade por dizer, com a necessidade de produzir noticiários e fazê-los circular 24 horas por dia, ainda que seja “investigação fazendo perguntas a todo o bicho- -careta que lhes aparecesse pela frente”. Melhor dizendo, até mesmo o dizer de um bicho-careta interessa à gula midiática, o que põe em funcionamento o interesse pelo exótico, estranho, exagerado, fora do comum que hoje povoa grande parte dos temas diletos dos noticiários.
No romance, destaca-se também o poder espacial e temporal de cobertura jornalística sobre todos os acontecimentos, incluindo a pauta sobrenatural (e absurda!) da divulgação dos desígnios da morte: “aquela televisão, ao seu serviço as vinte e quatro horas do dia, estava, como antigamente se dizia da divindade, em toda a parte e de toda a parte mandava notícias”. Ou seja, a mídia, por estar perto do fato, deve ser acionada pelo seu interlocutor que se encontra longe, tão longe, do acontecimento, que precisa receber notícias e informações dos meios de comunicação. A polissemia do verbo “mandar” funciona de modo a tocar a questão do poder, isto é, há uma voz da mídia que manda, ordena, exige e “escolhe” o que deve e pode circular.
Propagada com euforia, a imortalidade se desenhou na prática como grave transtorno. Por exemplo, as famílias, que não tinham condições de manter em casa os moribundos, atravessavam a fronteira para deixá-los morrer no país vizinho onde a morte continuava a dar o ponto final na vida. Tal solução é satanizada pelos jornais, que, na função de “barômetros da moralidade pública”, vociferam contra os mortais que querem apenas continuar a ser mortais, anulando assim outros modos de enunciação sobre a vida e a morte.
Quando todos se acostumavam com o horizonte da eternidade, a morte retorna, de forma astuta, avisando previamente o indivíduo sobre o momento de sua morte, para que pudessem ser preparadas as despedidas e providências de praxe. O prazo de sete dias seria precedido por uma “carta da morte”, anunciando a “rescisão deste contrato temporário a que chamamos vida”. Uma carta desse tipo e objetivo que deveria ser recebida por um músico é devolvida à morte, gerando nela novos questionamentos. Após contemplar o sono do violoncelista na tranquilidade do seu lar, sem se fazer notar, a morte, tencionada a entregar-lhe a carta, o contata por duas vezes, ambas ao término de apresentações musicais. Fascinado, o homem, que já se encontrava enamorado da bela figura feminina assumida pela morte, acabou por encantar seu algoz com sua arte ao tocar para ele em sua casa. Após momentos de maior intimidade, a morte, arrependida, queima a carta que portava, voltando aos braços do músico para neles adormecer: “no dia seguinte ninguém morreu”. Eis o ápice da grandeza da pulsão de vida que consegue, com musicalidade, transcender a pulsão de morte. Devemos esse achado existencial ao mago das letras, José Saramago.
* Jornalista formado pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Doutorando e mestre em Estudos Literários/Literatura Brasileira pela Faculdade de Letras da UFMG