| |
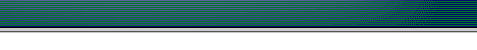  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1889 - Ano 41
15.12.2014
Marcos Fabrício Lopes da Silva*
Diretamente da Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios: “Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não serei mais que bronze que soa ou o címbalo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tivesse a plenitude da fé, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E, ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres e entregasse o meu próprio corpo às chamas, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará (1 Co 13. 1-3). Da condição de parte da doutrina cristã, pautada no amor fraterno, a solidariedade passou a ser valor moral a reger as relações em sociedade, tornando-se princípio universal e direito fundamental, percorrendo o caminho promocional da pessoa humana.
Em defesa do princípio solidário, é construída a “identidade ética” de cada sujeito moral. O ethos, por assim dizer, significa a face normativa da cultura do bem. Para tanto, incentiva-se o exercício da “consciência moral”, responsável pelo aperfeiçoamento ético do ideal humano compromissado com o agir em sociedade, amparado pela virtude, compreendida por Santo Agostinho como “a ordem do amor”. O amor ordenado e ordenador permanece como graça na mais alta das virtudes (caritas), por ele se realiza a unidade do espírito como inteligência e vontade, e por ele é ordenado o dinamismo do desejo advindo da sensibilidade e da afetividade. Eixo central desse princípio sublime se encontra expresso no mandamento cristão: “Amarás a teu próximo como a ti mesmo” (Mt 22.39). Tal fraternidade não deve ser vivida somente no ambiente sagrado da aliança, mas com todos os humanos. Assim ela é estendida, como expresso na Carta aos Efésios, que apresenta Jesus como reconciliador e estabelecedor da fraternidade universal: “de ambos os povos fez um só, tendo derrubado o muro da separação e suprimido em sua carne a inimizade [...] a fim de criar em si mesmo um só Homem Novo” (Ef 2. 14-15).
O valor fraternidade desenvolveu-se na cultura ocidental como lei moral a ordenar os comportamentos humanos, dessacralizando-se até tornar-se um puro dever. Logo, o agir moral, regulado pela ideia do dever, terá como pedra angular o princípio da autonomia. A respeito, pronuncia-se Jean-Jacques Rousseau, em Do contrato cocial (1762): “Poder-se-á, sobre o que precede, acrescentar ao que se adquire com o estado civil, a liberdade moral, que faz o homem verdadeiramente dono de si próprio, porque o impulso dos apetites é a escravidão, e a obediência à lei que cada um de nós se prescreve constitui a liberdade”. Autonomia, portanto, é prerrogativa da dignidade da pessoa, o respeito à personalidade de indivíduo como agente moral livre, capaz de agir de forma autônoma, sem nenhum uso instrumental da sua identidade ética.
No percurso histórico, o homem vem implantando o conteúdo valorativo fraterno, e por ele suas relações foram aperfeiçoadas coletivamente. Está registrado no livro O princípio esquecido (2008), organizado por Antonio Maria Baggio, que, em plena Revolução Francesa de 1789, foram experimentadas transformações linguísticas substantivas, objetivando conscientizar a população quanto aos seus direitos. Houve a adoção do “tu” no lugar do “vós” e a substituição do “senhor” e “senhora” por “irmão” e “irmã”, propondo-se, ainda, a substituição da expressão feudal “muito humilde servo” por “devotíssimo cidadão” ou “prezadíssimo irmão”, o que ressalta a equivalência entre cidadão e irmão. Verifica-se, portanto, nessa época a introdução de uma ideia mais ampliada, universalizada, de cidadania pela fraternidade.
Fraternidade vem do latim fraternitate e significa “irmandade” ou “conjunto de irmãos”. Em sentido estrito, exprime o sentimento de afeição recíproca entre irmãos. Mas o Cristianismo fundamentou a fraternidade por meio do preceito da caridade, prelecionando o amor a todos os homens, mesmo aos inimigos, já que todos têm a mesma ascendência e compartilham história e destino. Etimologicamente, solidariedade tem como pano de fundo as palavras latinas solidum (totalidade, soma total, segurança) e solidus (sólido, maciço, inteiro). Mesmo com o advento da modernidade, permaneceu o sentido primordial de solidariedade como comunhão e cooperação na formação de um todo social. Do ponto de vista emocional, solidariedade significa sentimento de compaixão pelo outro. Considerando a perspectiva moral, a compaixão desdobra-se em dinâmica de vínculo, reciprocidade, diversidade, responsabilidade, mutualidade, comunhão, compromisso, obrigação, cooperação. Juridicamente, entende-se por solidariedade “o fato radical que experimentamos quando percebemos em nossa identidade que o todo está na parte e a parte está no todo”, segundo argumenta João Carlos Almeida, em Teologia da solidariedade (2005).
A solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum. Mais do que um indivíduo independente e autônomo, o homem é, portanto, um “ser social”, uma vez que ganha impulso ético-normativo para colaborar ativamente com o campo da solidariedade. Trata-se da mais nobre manifestação do empenho coletivo edificante. Por isso, chegou ao ápice poético de ser proclamado por Alceu Valença, na linda canção Tomara (1991): “Tomara meu Deus, tomara/Que tudo que nos separa/Não frutifique, não valha/Tomara, meu Deus/Tomara meu Deus, tomara/Que tudo que nos amarra/Só seja amor, malha rara/Tomara, meu Deus/Tomara meu Deus, tomara/E o nosso amor se declara/Muito maior, e não para em nós/Se as águas da Guanabara/Escorrem na minha cara/Uma nação solidária não para em nós/Tomara meu Deus, tomara/Uma nação solidária/Sem preconceitos, tomara/Uma nação como nós”.
* Professor da Faculdade JK, no Distrito Federal. Jornalista, poeta e doutor em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG