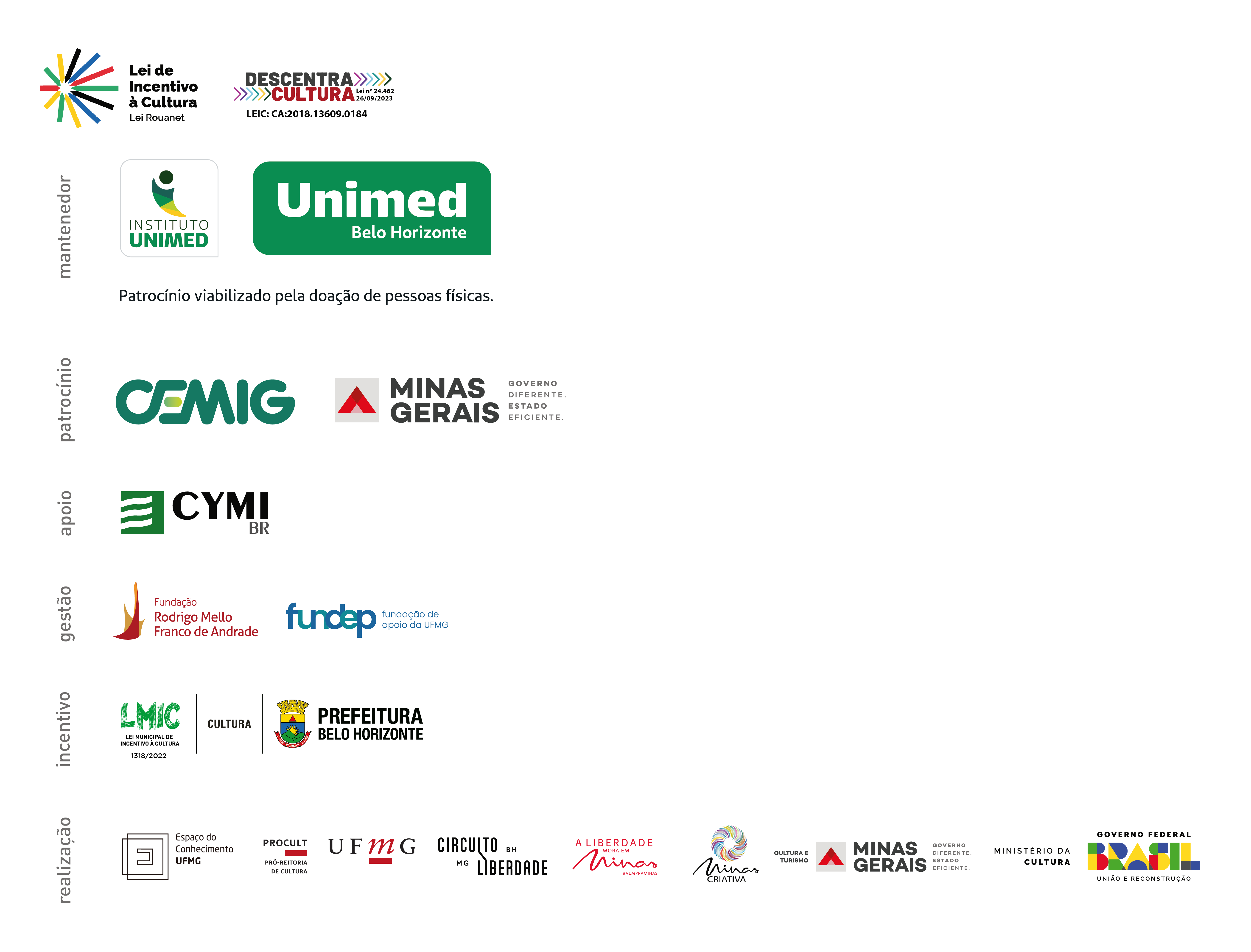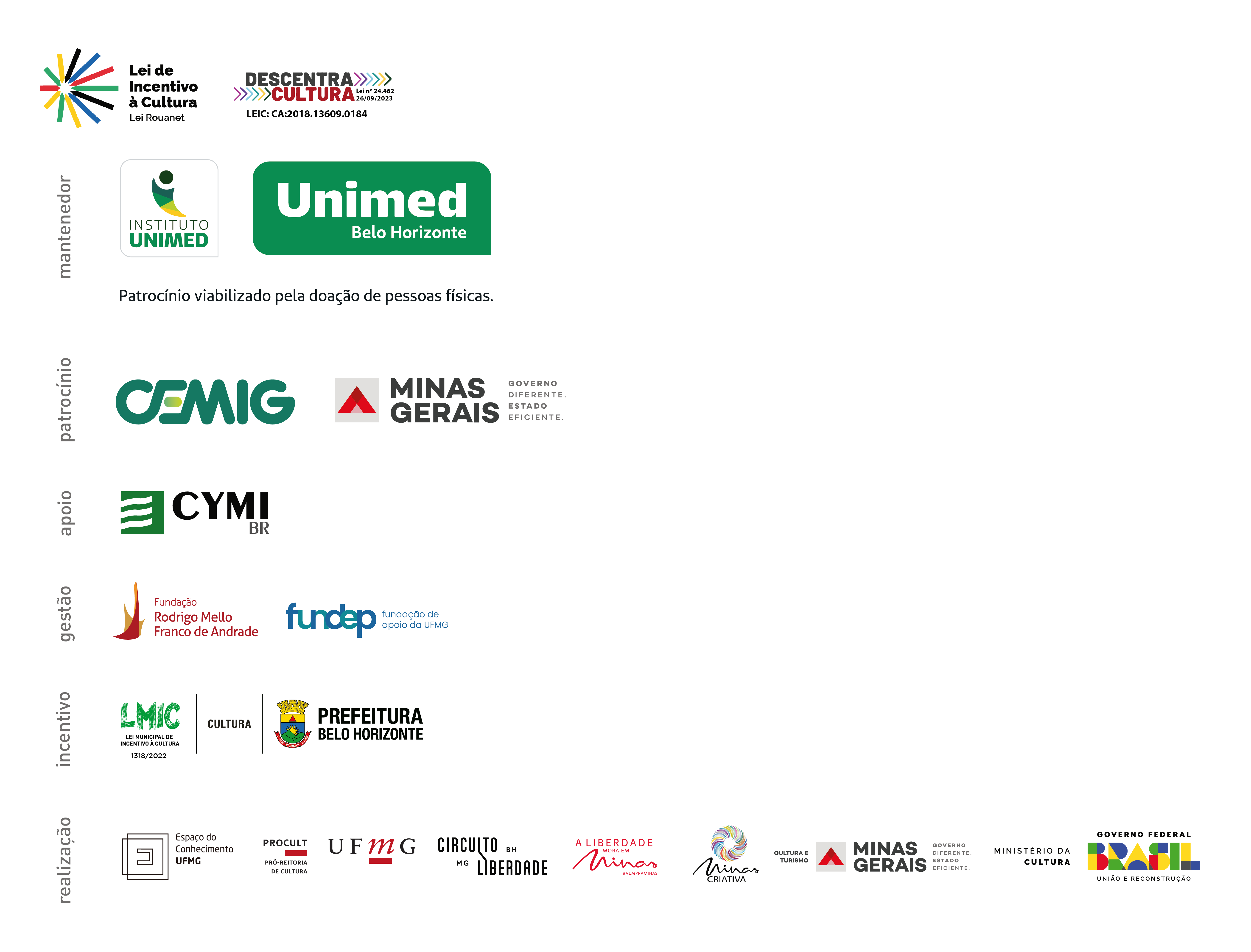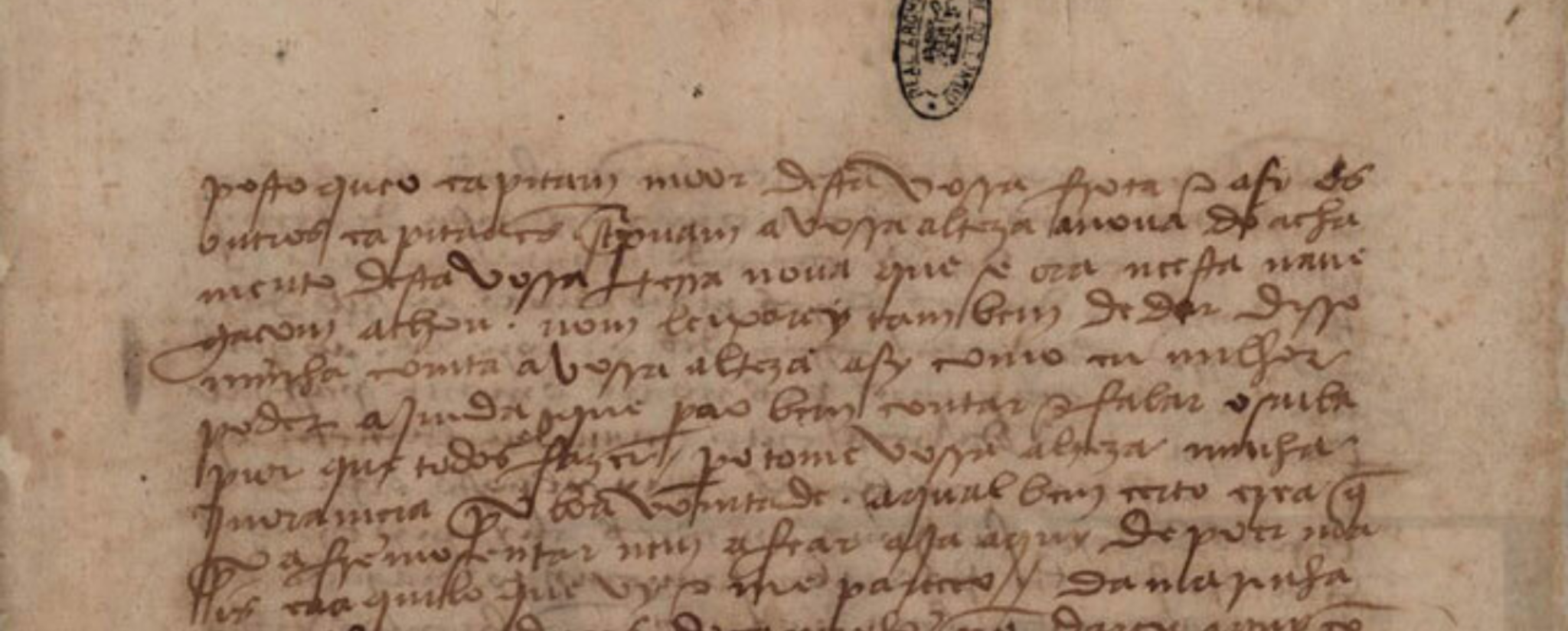
Entenda por que o termo “índio”, quando usado por pessoas não indígenas, reforça uma narrativa colonialista de violência e exclusão
Por Ana Luisa Pessoa Costa, estudante do curso de História e bolsista do Núcleo de Ações Educativas e Acessibilidade do Espaço do Conhecimento UFMG
12 de agosto de 2025
Por que os portugueses, quando invadiram as terras que viriam a ser o Brasil, designaram os povos nativos como “índios”? A explicação mais clássica, que se aprende até os dias de hoje nas escolas, é que os portugueses teriam seguido os passos de outro colonizador ibérico, o Cristóvão Colombo, e acreditado que eles teriam chegado às Índias, na Ásia. Por isso, passaram a chamar os habitantes locais de “índios”. No entanto, essa explicação está incorreta. Vamos entender o porquê:
Após o contato inicial entre os povos indígenas e os portugueses, diferentes termos foram utilizados pelos colonizadores para se referir aos indígenas, até que “índio” se consolidasse (Garcia, 2023). No documento mais famoso que retrata o encontro entre europeus e nativos no território que viria a ser o Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, aparece o primeiro modo de designá-los:
“E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. […] Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas” (Cortesão, 2003, grifo nosso). Carta de Pero Vaz de Caminha (1500). (Créditos: Arquivo da Torre do Tombo, Portugal).
No texto, o termo “pardos” pode parecer curioso, já que é uma categoria de identificação racial/étnica ainda em uso nos dias atuais. Isso poderia nos levar a pensar que os europeus – ou, ao menos, os portugueses – já operavam com noções de raça nos séculos XV e XVI. No entanto, essa ideia é incorreta: o conceito moderno de raça só se consolidou no final do século XVII. Assim, a descrição lusitana se baseava apenas nas características do fenótipo dos nativos, como a pele um pouco mais escura ou amarelada, e ainda não baseada em ideias que pregam a superioridade branca.
Outro modo de se classificar as pessoas indígenas era a partir de critérios religiosos, então termos como neófito e gentio, eram comumente utilizados. Neófito significa “novo na fé”, enquanto gentio se refere a quem não era cristão. Esses termos funcionavam dentro da lógica estamental do Antigo Regime como demarcadores da posição social dos indivíduos na hierarquia da sociedade portuguesa, o que acabava por determinar os horizontes de possibilidades de agência dos indivíduos nesse contexto (Almeida, 2017). Dentro dessa perspectiva, os nativos seriam passíveis de salvação ao serem iniciados na fé cristã. O Papa Paulo III, em 1537, por meio da Bula Veritas Ipsia, reafirmou essa perspectiva:
Conhecendo que aqueles mesmos índios, como verdadeiros homens, […] são capazes da Fé de Cristo, […] determinamos e declaramos que os ditos índios e todas as demais gentes que daqui em diante vierem à noticia dos cristãos, ainda que estejam fora da Fé de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo, de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, e não devem ser reduzidos à servidão; declarando que os ditos índios e as demais gentes hão de ser atraídas e convidadas à dita Fé de Cristo, com a pregação da Palavra divina e com o exemplo de boa vida (Papa Paulo III, Bula Veritas Ipsa, 1537).
Ou seja, enquanto neófitos, os “índios” não poderiam ser escravizados, não poderiam ser perseguidos pela Inquisição, deveriam ter seus bens e suas terras, em alguma medida, sob sua custódia, entre outros direitos que a eles eram garantidos. É importante ressaltar dois aspectos: em primeiro lugar, apenas os “índios” que se submetiam ao processo de cristianização eram, em tese, poupados da perseguição e da escravização. Se eles resistissem, a política de guerra justa entrava em cena contra os pagãos e esses direitos eram revogados (Oliveira, 2017). Outro ponto diz respeito à posse de terras: aqueles “índios” aliados à Coroa Portuguesa eram “descidos” para os aldeamentos, os quais ficavam próximos das vilas coloniais. Essas terras eram de posse indígena. O restante do território brasileiro era considerado terra devoluta, ou seja, propriedade do rei. Entretanto, o que estava na lei nem sempre era efetivado na prática. A guerra justa, por exemplo, só podia ser realizada mediante algumas justificativas pré-estabelecidas em lei e deveria ser permitida pelo monarca. Era comum usar, de forma indiscriminada, a justificativa da suposta hostilidade dos nativos para legitimar qualquer tipo de contato entre eles e os colonos.
Outra ação comum entre os colonizadores era pedir a permissão do rei para a guerra justa e, ao invés de esperar a resposta, já realizar a expedição militar e escravizar aqueles indígenas, de modo que, quando recebiam uma negativa da Coroa, já era tarde demais (Perrone-Moisés, 1992). No que diz respeito aos “descimentos” e os “aldeamentos”, a lei afirmava que os primeiros deveriam acontecer de maneira pacífica, o que não acontecia na maioria das vezes. Existem inúmeros documentos nos quais os indígenas afirmavam que viver nos aldeamentos era pior do que ser escravizado, tamanha era violência com a qual eram tratados e a insalubridade das condições de vida em alguns desses espaços (Perrone-Moisés, 1992).
Os escravizados que eram traficados de África chegaram à América Portuguesa apenas no final do século XVI, de modo que, até lá, a mão de obra utilizada era essencialmente indígena. Assim, a bula papal buscava limitar, em alguns pontos, práticas exploratórias que eram corriqueiras nesse ponto da história. Entretanto, elas nunca cessaram de fato. Os senhores de escravos tentavam a todo momento burlar as leis portuguesas e um dos meios de fazer isso era registrar pessoas indígenas como negras – afinal, a escravização de pessoas africanas era permitida e endossada, inclusive pela autoridade papal. Portanto, com a chegada e o estabelecimento do fluxo do tráfico negreiro, os escravagistas se valiam de inúmeras estratégias para gerar confusão em torno das categorias de identificação e submetê-los à escravidão (Garcia, 2023).
Dessa maneira, uma estratégia muito interessante se mostrou recorrente entre os povos originários: a reivindicação da categoria “índio” para si como um meio de luta política por seus direitos (Almeida, 2017). Muitos historiadores da Nova História Indígena defendem que o termo era muito mais uma categoria jurídica do que um demarcador cultural. O que significa que ser desse estatuto conferia a esse grupo de pessoas determinados direitos dentro daquela sociedade. Outro ponto de destaque é que, dentro da documentação estudada pelos historiadores, o termo “índio” sempre é utilizado para indicar que aquele nativo era livre. Nesse sentido, caso houvesse algum colono tentando escravizar um nativo alegando que ele seria um negro, por exemplo, ele poderia procurar a justiça para demonstrar que ele era, na verdade, um “índio” – e isso foi muito comum. Portanto, mesmo com inúmeras limitações, o arcabouço legislativo português que tratava de assuntos relacionados aos povos indígenas foi, em alguma medida, significativo dentro do contexto de dominação colonial, uma vez que fornecia aos nativos mecanismos jurídicos de reivindicar aqueles direitos que deveriam estar sendo resguardados pela lei, bem como impor limites aos excessos do processo colonizador, já tão violento.
Os séculos XVIII e XIX marcaram uma inflexão no modo como o governo português se relacionava com os indígenas e foram tão marcantes que toda a historiografia brasileira oitocentista se influenciou por esse contexto. A partir daí, um movimento de criação de políticas assimilacionistas, as quais culminaram, depois, na tese da extinção indígena. Essa tese corresponde à crença em uma história dicotômica e simplista, na qual existiriam vencedores e perdedores, denotando uma suposta superioridade dos colonizadores sobre os povos indígenas. Estes estariam fadados a desaparecer, seja pela violência, seja pela sua assimilação à população brasileira, preferencialmente branca (Monteiro, 1995). O grande exemplo disso é o “Diretório dos Índios”, implementado por Marquês de Pombal em 1755 (Coelho, 2006). Ele lançou as bases dessas propostas, as quais visavam integrar os “índios” ao resto da população brasileira. Por meio de uma suposta emancipação desses povos, manobra política que os equiparava juridicamente ao restante da população brasileira, as terras cuja propriedade era dos nativos, passaram a ser compradas e ocupadas por pessoas não indígenas. Aqueles direitos resguardados por lei não existiam mais. O próximo grande marco dessa inflexão ocorreu após a Independência do Brasil, com os “Apontamentos para a Civilização dos Índios Bravos do Império do Brasil”, escritos por José Bonifácio. Esse texto foi um projeto nacional que seguiria buscando a integração dos indígenas ao Brasil, visando a criação de uma identidade etnicamente homogênea e, preferencialmente, branca por meio da miscigenação.
“Diretório dos Índios”. (Créditos: Blog História, e mais!)
Portanto, para os políticos e intelectuais da época, a extinção dos “índios” era algo certo: eles estavam fadados a isso. E a própria historiografia os via dessa maneira, assumindo uma postura evolucionista que os colocava como representantes de um passado primitivo que todos os grupos humanos passariam e superariam. Assim, só devido ao “processo civilizatório” ao qual estavam sendo violentamente submetidos, os indígenas seriam capazes de “ultrapassar seu atraso” e “chegar no patamar dos europeus”.
Na verdade, esse “processo civilizatório” correspondia a uma visão eurocêntrica, racista e eugênica elaborada pelos colonizadores e que se manteve presente na cultura letrada da elite brasileira da época. Assim, seus dois maiores objetivos eram a aculturação dos povos indígenas bem como sua paulatina integração à sociedade brasileira não indígena, o que idealmente significava o abandono do viver indígena e a incorporação do viver europeu. Assim foi idealizada e planejada a extinção dos povos indígenas no Brasil pela elite oitocentista.
Contudo, o tempo passou, e a sociedade foi se transformando e isso não aconteceu: os povos originários não foram extintos. Pelo contrário: eles se uniram para construir um Movimento Indígena organizado que, o suficiente para lutar por seus direitos dentro das estruturas de poder ocidentais. O antropólogo indígena Gersem Baniwa (2006) fala sobre como a adoção do termo indígena pelos povos originários agiu no sentido de fortalecer o movimento ao promover uma identidade comum entre as inúmeras etnias que existem em território brasileiro. A maior expressão desse processo é o famoso discurso de Ailton Krenak na Assembleia Constituinte, em 1987, quando ele reivindicava que os povos indígenas e suas demandas fossem ouvidos durante a elaboração da nova constituição enquanto passava jenipapo no rosto. Um ano depois, foi fundada a União dos Povos Indígenas, que visava a representar seus interesses no cenário nacional.
Ailton Krenak durante a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. (Créditos: Cimi – Conselho Indigenista Missionário).
Nas palavras de Daniel Munduruku, retiradas do vídeo Índio ou indígena (2018):
A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário e também no vocabulário dos povos indígenas, porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 1970, quando essa juventude começou a olhar e a se perceber como parte de uma sociedade maior, foi assim que começou o movimento indígena. Essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificar aqueles que eram parceiros. Então se essa palavra é usada por uma liderança, é nesse sentido. Quando é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, no sentido do desdém, no sentido do estereótipo, no sentido da ideologia. […] Porque ela está me colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente tem que brigar contra isso. […] A gente valoriza, e nós somos de cultura da palavra, a palavra para nós tem sentido, tem alma, tem vida. A palavra enobrece ou também ela detona, derruba, destroi. Então saber usar as palavras para tratar o outro é sinal de inteligência. É sinal de humanidade. É sinal de tolerância com o outro. […] é deixar que o outro seja, não o que eu quero que ele seja, mas aquilo que ele é de fato. E cabe a uma sociedade decente lutar para que o outro seja o que ele quer ser.
Enfim, seja por povos indígenas, originários ou seja pelo nome do povo em específico, o importante é não reduzir a complexidade e diversidade de seus mundos a uma única narrativa preconceituosa e uma única visão que os limita ao processo de colonização – e é isso que acontece quando usamos o termo “índio”. Portanto, esse termo, ao ser utilizado por pessoas não indígenas, além de ser ofensivo, também carrega um peso histórico que traz consigo uma narrativa que os violenta e que atua no sentido de retificar políticas que vão contra os interesses e o bem estar desses povos. Vale ressaltar que as histórias indígenas são extremamente ricas, se mantendo presentes no cenário atual criando novas estratégias contracoloniais de sobrevivência e outros modos de viver, de ensinar e de fazer arte.
Referências:
ALMEIDA, M. R. C. de. A atuação dos indígenas na História do Brasil: revisões historiográficas. In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 37, nº 75, 2017.
COELHO, M. C. O Diretório dos “índio”s e as Chefias Indígenas: uma inflexão. In: CAMPOS – Revista de Antropologia Social, July 2006.
CORTESÃO, J. Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o Achamento do Brasil. Texto integral. São Paulo: Martin Claret, 2003.
GARCIA, E. F. Quem eram os “índio”s na Época Moderna? Identidades, direito e agência nos Impérios Ibéricos. In: FRANCO, R.; WANDERLEY, M.; PATUZZI, S. Práticas de Justiça: desigualdades sociorraciais no mundo ibérico (séculos XVI – XVIII). São Paulo: HUCITEC, 2023.
LUCIANO, G. J. dos S. O “índio” Brasileiro: O que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de Hoje. 1. ed. Brasília: MEC/SECAD MUSEU NACIONAL/UFRJ, 2006. v. 1. 232p .
MONTEIRO, J. M. O desafio da História Indígena no Brasil. In: SILVA, A. L. da S.; GRUPIONI, L. D. B. (Eds.) A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1o e 2o graus. Brasília: MEC; Mari; Unesco, 1995. p.221-228.
MUNDURUKU, D. “índio” ou indígena?. Youtube, 27/12/2018. 6 minutos. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4Qcw8HKFQ5E. Acesso em: 20 de abr. 2025.
OLIVEIRA, J. P. Os indígenas na fundação da colônia: uma abordagem crítica. In: FRAGOSO, J. L. R.; GOUVÊA, M. de F. O Brasil Colonial (Vol. 1) Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.
PAULO III, Papa. Bula Veritas Ipsia, 1537. MONTFORT Associação Cultural. Disponível em: http://www.montfort.org.br/bra/documentos/decretos/veritas_ipsa/. Acesso em: 23 de abr. 2025.
PERRONE-MOISÉS, B. “índio”s Livres e “índio”s Escravos: os princípios da legislação indigenista do período colonial (sécs. X V I a XVIII). In: CUNHA, M. C. (Org.). História dos “índio”s no Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.
Tia Ciata: a matriarca do samba
Cosmologias e o Universo de O Senhor dos Anéis
Museus e memória em BH: o que a cidade conta?
A vivência do Transtorno do Espectro Autista na UFMG