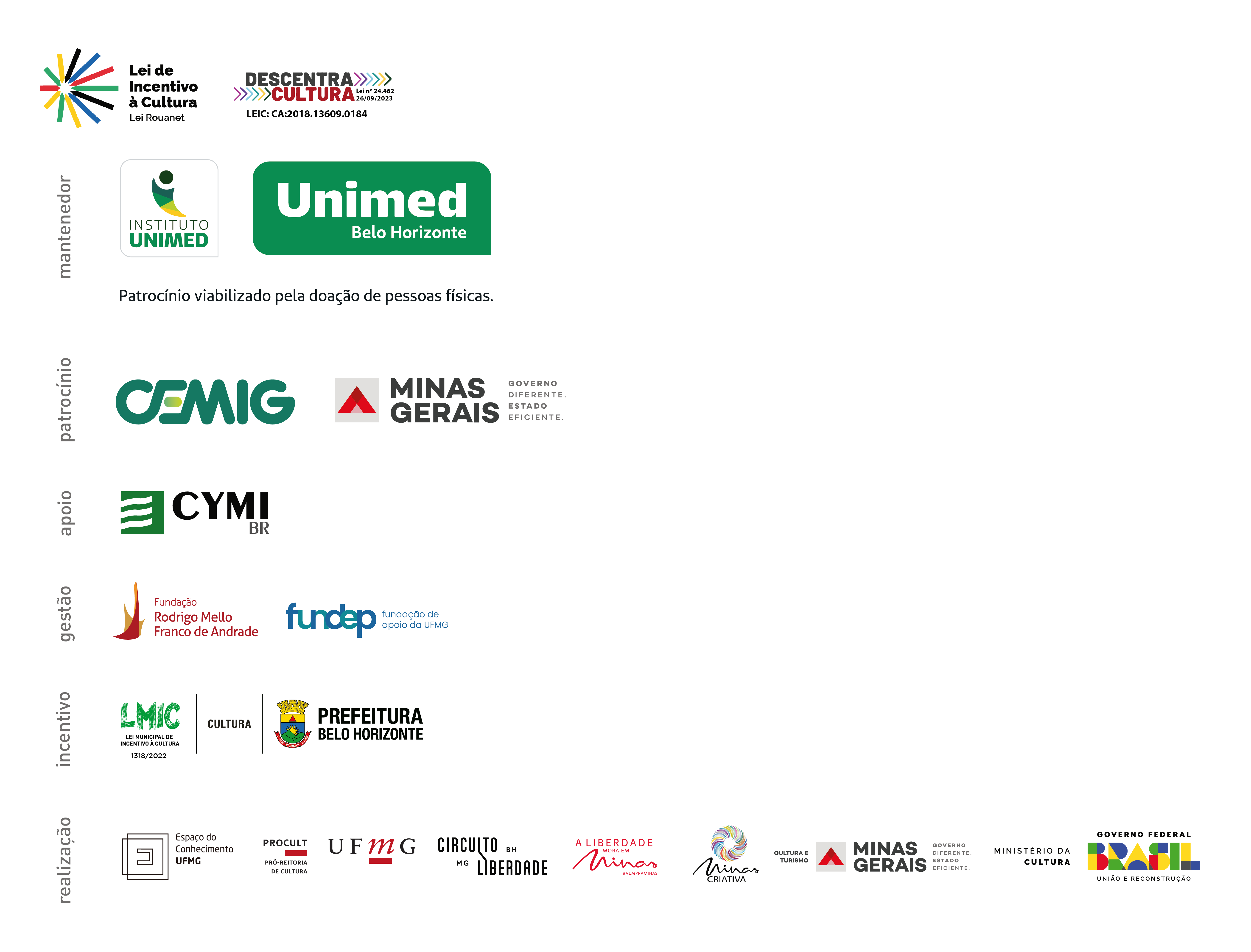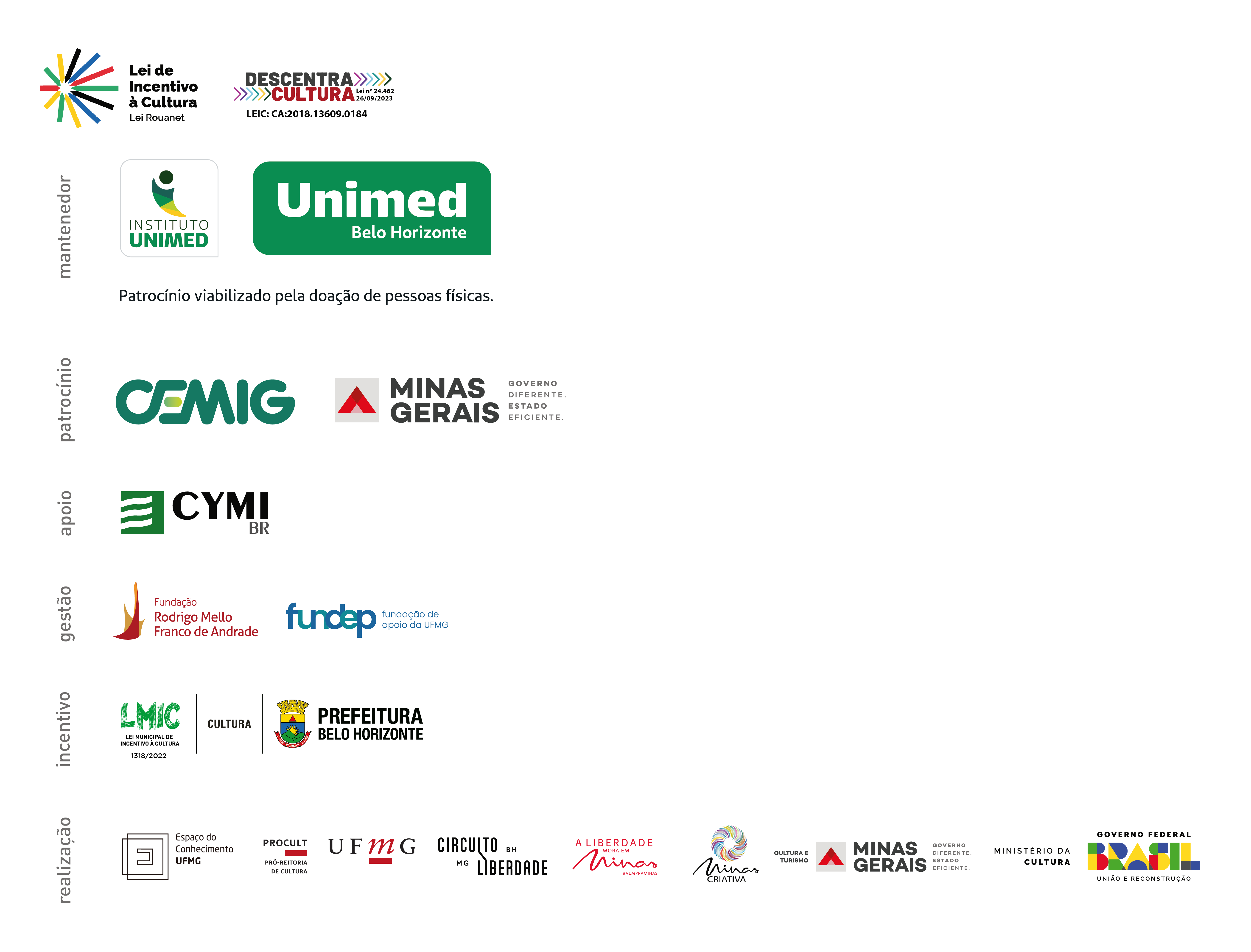Descubra como Hilária Batista de Almeida se tornou uma figura essencial para o surgimento do samba
18 de novembro de 2025
Por Samuel Victor Lacerda de Moura, estudante de Música Popular da UFMG e bolsista do Núcleo de Comunicação e Design do Espaço do Conhecimento UFMG
O samba é uma das maiores expressões culturais do Brasil, e sua popularização deve muito a uma mulher que, mesmo sem ser musicista, exerceu papel fundamental em sua origem. Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata ou Aciata, nasceu em 13 de janeiro de 1854, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Desde jovem, a religiosidade esteve presente em sua vida, e aos 16 anos, ela foi uma das fundadoras da Irmandade da Boa Morte, em Cachoeira (Bahia). Filha de Oxum e iniciada no Candomblé, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 22 anos, com o marido, e teve 14 filhos. Lá, deu continuidade aos preceitos religiosos na casa de João Alabá, tornando-se Mãe-Pequena, importante cargo na Umbanda.
Praça Onze, Rio de Janeiro, c.1920. Local histórico do samba urbano, onde Tia Ciata recebia músicos e sambistas, promovendo encontros que marcaram o nascimento e a popularização do gênero. (Créditos: Arquivo Francisco Duarte/Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro).
Tia Ciata sempre foi uma mulher cuja vida se entrelaçava com o trabalho e a religião, desempenhando um papel fundamental na construção da tradição das baianas quituteiras no Rio de Janeiro. Com suas roupas majestosas, adornadas com colares e pulseiras, ela simbolizava a força e a presença de uma cultura afro-brasileira rica e vibrante. Suas atividades profissionais eram sempre acompanhadas de uma profunda conexão com suas crenças, o que a tornava uma figura respeitada tanto na comunidade religiosa quanto na sociedade carioca.
Foi através desse espírito empreendedor e de fé que ela foi conquistando cada vez mais influência na região que se tornaria o berço do samba. Junto a outras tias baianas, Tia Ciata se destacou pela habilidade de organizar e fortalecer a comunidade, sendo reconhecida por sua posição central nos terreiros, onde ajudava a garantir a continuidade das tradições de matriz africana. Contudo, ela não se limitava a preservar essas tradições. Sempre as reinventava, adaptando-as à realidade da cidade e criando novas formas de expressão cultural. Sua casa, localizada na área da Praça Onze, tornou-se verdadeiro ponto de encontro para a comunidade, sendo um local onde a cultura e a religiosidade se entrelaçavam, criando um ambiente propício para o florescimento do samba e para a revitalização das práticas culturais afro-brasileiras no Rio de Janeiro. Dessa forma, Tia Ciata não só preservou, mas também contribuiu ativamente para o fortalecimento e a expansão dessa tradição.
Era uma prática constante em sua vida: Ciata adorava celebrar seus Orixás, com festas que se tornaram lendárias, como as de São Cosme e Damião e a de Oxum. Essas celebrações eram momentos de grande alegria e devoção, e Tia Ciata se destacava especialmente nas rodas de Partido-Alto, um gênero de samba, devido às suas habilidades como partideira, liderando versos, animando e dando ritmo às cantorias. Foi nesses encontros que ela transmitiu seu conhecimento ao neto, Bucy Moreira, um grande compositor brasileiro, ensinando-lhe o segredo do “miudinho”, uma forma de sambar com os pés juntos que exige grande destreza e elegância, na qual ela era mestre.
Essas festas se tornaram uma verdadeira tradição, sempre seguidas de uma cerimônia religiosa, muitas vezes precedida por uma missa cristã. Após os rituais, músicos e capoeiristas amigos da casa armavam um pagode, com violões, pandeiros, ganzás e muito samba, criando uma atmosfera única de celebração. Sua casa se tornava um centro cultural, onde eram promovidos saraus com chorões (músicos de choro) e bailes dançantes no salão da frente, enquanto, no fundo do quintal, o samba fluía sem parar. E, para encerrar as festividades, sempre havia a cerimônia de candomblé, que unia todas essas manifestações culturais e religiosas em uma celebração completa.
Baianas com vestimentas típicas. In: Luiz Viana Filho, O negro na Bahia. Rio de Janeiro, J. Olympio, 1946, s.n.p. (Créditos: Documentos Brasileiros, 55).
Foi nesses encontros, que duraram por 20 anos e se concentraram nas proximidades da Praça Onze, no Rio de Janeiro, perto da Sociedade Recreativa Paladinos da Cidade Nova e, mais tarde, da Sociedade Carnavalesca Kananga do Japão (fundada em 1910 como rancho), que se formou um dos maiores núcleos de músicos negros brasileiros. Nomes como Donga, João da Baiana, Chico da Baiana, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, Sinhô, Caninha, Didi de Gracinda, Marinho que Toca, Mauro de Almeida, João da Mata, Mirandella, Mestre Germano, China, Catulo da Paixão Cearense, entre outros, frequentavam essas festas, inicialmente ainda crianças e depois já consagrados artistas, trocando experiências e criando laços que ajudaram a moldar a música popular brasileira.
Contudo, no início do século XX, apenas alguns anos após a abolição da escravidão, a comunidade negra ainda enfrentava um forte preconceito cultural, e a discriminação era uma realidade constante. As rodas de samba, por exemplo, eram frequentemente alvo de repressão. A polícia, alegando “vadiagem”, encerrava as festas com o pretexto de que essas reuniões eram proibidas pelas autoridades. No entanto, esse cenário de hostilidade começou a mudar após um episódio específico que transformou a dinâmica dessas celebrações e possibilitou uma maior liberdade para o samba se expandir.
1919 – Os Oito Batutas: Jacob Palmieri, Donga, José Alves, Nelson Alves, Raul Palmieri, Luiz de Oliveira, China e Pixinguinha. Data: 1919. (Créditos: Acervo José Ramos Tinhorão/IMS).
O presidente da época, Venceslau Braz, que governou o Brasil entre 1914 e 1918, enfrentava um problema de saúde grave: uma ferida na perna que, apesar dos esforços dos melhores médicos do país, não apresentava sinais de cura. Já sem alternativas na medicina tradicional, Venceslau Braz, sabendo da fama de curandeira de Tia Ciata, decidiu chamá-la ao Palácio do Catete para tratar de sua enfermidade. E, como que por milagre, dias depois a ferida cicatrizou. Em agradecimento, o presidente não apenas autorizou todas as festas promovidas por Ciata, mas também deu um emprego a seu marido, nomeando-o Chefe de Gabinete na polícia, além de ordenar que dois soldados realizassem a segurança das reuniões. Com esse apoio oficial, as festas passaram a ser mais seguidas e frequentadas, e os músicos, agora com mais liberdade, começaram a se sentir mais à vontade para criar e inovar.
Foi nesse contexto que, no final de 1916 e início de 1917, na casa de Tia Ciata, surgiram os primeiros sinais do que seria o primeiro samba gravado no Brasil: Pelo Telefone, de autoria de Donga e Mauro de Almeida. Esse samba, composto durante uma das muitas reuniões que aconteciam na casa de Tia Ciata, é considerado um marco na história da música brasileira.
Venceslau Brás, Ex-Presidente do Brasil. (Créditos: Galeria de Presidentes).
As raízes africanas e a influência adquirida por Tia Ciata tiveram um impacto profundo e duradouro na história da música brasileira, alterando para sempre o curso do samba e o status cultural que ele possui atualmente. A importância de Hilária Batista de Almeida, tanto para a popularização do samba quanto para a preservação e evolução das tradições culturais afro-brasileiras, é inquestionável. Seu legado permanece vivo nos terreiros, nas escolas de samba, nas rodas de choro e samba, e em cada aspecto da cultura negra brasileira que continua a florescer e a enriquecer o país. Tia Ciata não apenas ajudou a moldar o samba, mas também garantiu que as tradições afro-brasileiras seguissem sendo celebradas e respeitadas, mantendo-se vibrantes nas gerações seguintes.
Referências
CABRAL, S. As Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Lumiar, 1996.
CABRAL, S. No Tempo de Almirante. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990.
JOTA E. Figuras e Coisas do Carnaval Carioca. Rio de Janeiro: Funarte.
MOURA, R. Tia Ciata e a pequena África no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Funarte/INM, 1983.
Tia Ciata: a matriarca do samba
Cosmologias e o Universo de O Senhor dos Anéis
Museus e memória em BH: o que a cidade conta?
A vivência do Transtorno do Espectro Autista na UFMG