| |
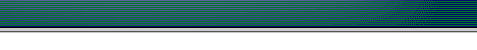  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1628 - Ano 35
06.10.2008
 Roberto DaMatta
Roberto DaMatta
Flávio de Almeida
Por onde vai, ele atrai pequenas multidões de estudantes de ciências sociais interessados em ouvir suas idéias. E não foi diferente no dia 26 de setembro, quando o professor Roberto DaMatta, da PUC-Rio, proferiu a conferência de encerramento da VI Jornada de Ciências Sociais da UFMG.
O auditório Sônia Viegas da Faculdade de Letras foi pequeno para receber a platéia que, em vários momentos, aplaudiu com entusiasmo o mais celebrado antropólogo brasileiro da atualidade. Um interesse que ele próprio explica com seu indisfarçável bom humor carioca. “Eu ainda não sou um fantasma. De certa forma, represento um pedaço do pensamento antropológico vivo”, brincou ele, do alto de seus 72 anos, mas aparentando bem menos que isso.
Após a conferência, Roberto DaMatta concedeu a seguinte entrevista ao BOLETIM, na qual falou sobre o impacto provocado, no final dos anos 70, pelos seus estudos baseados na incorporação à antropologia de temas do cotidiano, como carnaval, futebol e jogo do bicho. “Até então, o Brasil era pensado a partir das mesmas variáveis: três raças, cinco regiões geográficas, três ou quatro etapas históricas, duas classes sociais”, lembrou o antropólogo.
 |
| Filipe Chaves |
São manifestações fortemente brasileiras, muito trabalhadas e elaboradas pelas classes populares. Não foram inventadas pela elite. Se o futebol tivesse sido estatizado, não teríamos ganhado nenhuma copa do mundo. Se o governo entrasse no jogo do bicho, ele acabaria antes do Barão de Drumond inventar os bichos. A mesma coisa ocorre com o carnaval. O governo tenta controlá-lo e não consegue.
Quando lancei Carnaval, malandros e heróis, em 1979, os atores principais do drama das ciências sociais brasileiras eram outros: a família, o escravismo, o governo, a burguesia nacional. Na época, um tema tão cotidiano quanto o carnaval não era considerado legítimo como objeto do estudo. Não era um livro de esquerda. Fui classificado como autor reacionário, de direita.
O interessante é que o Afonso Romano de Sant’ Anna {escritor} me chamou de brazilianista quando lancei Carnavais, malandros e heróis. O Merquior {o diplomata José Guilherme Merquior}, de certa forma, também. Foi exatamente a distância que me permitiu ter essa outra visão do Brasil, passando a valorizar, por exemplo, as relações pessoais para entender a nossa nação.
Ela é boa no campo pessoal, porque permite o resgate do lado humano dentro de regras burocráticas implacáveis. E é negativa quando você, com o jeitinho, com a amizade, deixa de prender um criminoso. Discutir os limites do jeitinho é importante. Até onde é legítimo passar por cima de uma lei para ajudar um amigo? As leis não foram escritas por Deus nem por pessoas infalíveis. Em alguns momentos, a lei pode ser um instrumento de desumanização. E aí o jeitinho vale a pena. Lembrei-me daquele filme O resgate do soldado Ryan. Conta a história de uma família que perdeu três filhos numa guerra e corria o risco de perder o quarto. Aí, o general mandou resgatar o soldado. É evidente que ele descumpriu uma norma, mas havia naquele gesto uma justificativa maior: evitar que a mãe perdesse mais um filho. Tendo consciência dessas coisas, podemos pensar em soluções brasileiras para os nossos problemas. Veja o caso do nepotismo. É possível domesticá-lo, conferir-lhe alguma legitimidade?
Muita coisa mudou no Brasil e no mundo nos últimos tempos com a globalização, o avanço do sistema financeiro internacional, a ampliação do bem-estar social, que também alcançou o Brasil, o Plano Real, que considero revolucionário, e a estabilidade monetária. Já o governo Lula e o PT, que anunciaram que iriam mudar tudo, tiveram papel importante para estabelecer elementos de convergência. Antigamente, as divergências existiam também no plano concreto, mas elas eram sobretudo de fundo ideológico. A gente viu o “diabo” chegando ao poder. E o “diabo” não fez muito.
Exatamente. Houve práticas de governos anteriores que se repetiram no “governo do diabo” em uma escala muito maior. Refiro-me ao mensalão. O PT humanizou a política. Não existem mais santos e demônios. E isso é muito importante para as transformações acontecerem. Você aprende muito mais com um professor que se coloca como humano em sala de aula do que com um professor que sabe tudo.
Estou trabalhando num livro sobre o comportamento no trânsito em Vitória, baseado em pesquisa feita para o Detran do Espírito Santo. Várias questões que identifiquei em estudos anteriores podem ser observadas com clareza no trânsito: o jeitinho, o “sabe com quem está falando” e as dificuldades de viver de forma igualitária num ambiente em que isso é absolutamente necessário.