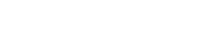Do viés “médico” à abordagem “psicossocial”. É dessa forma que o coordenador de Políticas para Pessoas com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos de Minas Gerais, Romerito Costa, avalia a evolução do modelo de escola inclusiva do Brasil. O assunto foi discutido em mesa-redonda na manhã desta sexta-feira, dia 7, durante a SBPC Educação, realizada em Montes Claros.
Romerito, que é deficiente visual, comparou suas vivências de estudante e de professor e concluiu que o paradigma de escola inclusiva foi bastante transformado ao longo do tempo. Segundo ele, o paradigma médico, já ultrapassado, é centrado na aquisição de ferramentas para suprir as deficiências nas estruturas do corpo e prevê o treinamento do indivíduo para ter acesso aos espaços da sociedade. No caso da abordagem psicossocial, o indivíduo toma as rédeas do processo, ou seja, as ações inclusivas têm a participação dos deficientes.
“Não somos mais apenas ‘receptores’ de melhorias; a prioridade é que todo o processo social se modifique. Há uma clara percepção de que os impedimentos não são apenas as barreiras físicas, mas as de comportamento e atitude”, afirmou Romerito Costa.
Alfabetização às avessas
Romerito Costa ilustrou seu raciocínio com um exemplo bem concreto, a alfabetização de uma criança autista. “Esse menino não podia ser alfabetizado da forma convencional. Como ele gostava de plantas, ensinamos primeiro o nome da planta, para depois sugerirmos as sílabas e só então identificarmos a letra. Esse caminho inverso mostra que não é a pessoa com deficiência que precisa se adequar ao contexto, mas o contrário”, analisou.
De acordo com o censo de 2010, 45 milhões de brasileiros relataram ser portadores de algum tipo de deficiência. Essas e outras estatísticas foram apresentadas pela professora Adriana Valladão, diretora do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) da UFMG. “As pessoas com limitações têm piores expectativas de saúde, escolaridade e participação econômica. Isso sinaliza que ainda há muito a se fazer para alcançar a igualdade”, observou.
Segundo ela, há, nos cursos de graduação da UFMG, 300 alunos com deficiência, o que representa 1,25% do total. Na pós-graduação, essa prevalência cai para 0,5% (62 alunos). “Isso mostra que a progressão acadêmica para os estudantes com deficiência é mais difícil”, interpreta.
Adriana Valladão ressaltou que a universidade precisa se empenhar na reversão desse quadro. “A mudança deve passar pelo reconhecimento do potencial de todos, pelo estímulo às capacidades individuais e pela apreciação das experiências em que a limitação não influi nos direitos e deveres”, defendeu.
Projeto de nação
A diretora de Educação Especial da Secretaria de Educação de Minas Gerais, Ana Regina de Carvalho, traçou um panorama da presença de pessoas com deficiência nos bancos escolares. Segundo ela, no início do século 20, a situação de pessoas com deficiência era de total invisibilidade. Por volta da década de 1970, começaram a surgir instituições de apoio a pessoas com deficiência, como a Apae. “Surge, então, um ‘universo paralelo’. Os deficientes passam a ser visíveis àqueles que por eles se interessam”, lembrou.
Segundo Ana Regina, a Constituição Federal de 1988 legitimou uma nova concepção de sociedade, em que os deficientes lograram o status de ‘sujeitos de direito’. Em 1996, a educação especial passou a ser organizada e oferecida na rede regular. “Para nós, profissionais da educação, é importante entender que chegamos a esse patamar porque respondemos ao desafio que a sociedade nos impôs. A educação inclusiva é um direto público e subjetivo de todos os cidadãos. Mais do que isso, ela é parte de nosso projeto de nação”, enfatizou.