| |
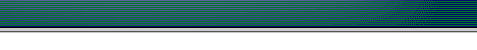  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1558 - Ano 33
27.11.2006

O Brasil não é bicolor*
Carlos Lessa**
![]()
Brasil não tem cor. Tem todo um mosaico de combinações possíveis. Falar de raça – no singular ou no plural – é anti-científico, social e ideologicamente muito perigoso. Quem, no Brasil, falou de raças foi uma elite que, no século XIX, intimidada pelo eurocentrismo, assumiu como ciência o determinismo ambiental e racial de um Blake (que explicava o êxito britânico pelo desafio e potencialidade do ambiente insular) e de um Gobineau, que se apoiava na pureza racial como o propulsor civilizatório e a mestiçagem da raça dominante como o vetor explicativo de sua decadência. O Império Romano serviu-lhe como exemplo.
Tanto Blake como Gobineau falam do Brasil mestiço do século XIX como exemplo de uma sociedade condenada a não ser civilizada. O tema da raça serviu para ginásticas curiosas. Houve veto à imigração chinesa; houve abolicionistas a favor da medida, não por humanismo, mas para evitar novas “injeções” de etnias africanas e, através de imigrantes europeus, branquear a “raça brasileira”.
Euclides da Cunha viu no sertanejo do semi-árido e no caboclo amazônico raças históricas em formação, com potencialidade civilizatória. Toda esta bobagem foi sepultada por Gilberto Freyre e pelo Movimento Antropofágico, que exaltaram, no brasileiro, a mistura étnica-cultural.
Num esquema cromático, 51,4% da população brasileira se declaram brancos, 5,9% se declaram pretos e 42% se declaram pardos, lançando mão de amplo espectro de denominações. As pesquisas genéticas identificaram que 87% dos brancos, no Brasil, têm pelo menos 10% de ancestralidade africana.
Os pardos certamente são uma percentagem maior de afrodescendentes; porém são também eurodescendentes. Pardos somados aos pretos deram origem a uma nova expressão – negro –, que seriam 47,9% dos brasileiros. Lançando mão do corte de linha de pobreza, dos quase 57 milhões de brasileiros pobres, 34,2% são brancos, 58,7%, pardos, e 7,1%, negros. O truque de somar pardos com pretos, denominando-os negros, faz 65,8% dos pobres. Se criássemos a categoria branquelos, como resultado da soma de brancos mais pardos, teríamos 92,9% de branquelos pobres.
Em 1996, o presidente FHC criou o Programa Nacional de Direitos Humanos, que, em um artigo, estabelece: “Determinar ao IBGE a adoção do critério de considerar os mulatos, os pardos e os pretos como integrantes do contingente de população negra”. O professor FHC deu um passo decisivo para o Brasil bicolor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua e cria uma Secretaria de Igualdade Racial; o Senado aprovou um projeto de estatuto de Igualdade Racial que será examinado pela Câmara. O regime de cotas para “negros” será estendido a todos os escalões do sistema de ensino e burocrático.
Todo este movimento existe para combater um racismo que existe minoritário e envergonhado. O “bicolorismo” e o sistema de cotas darão “naturalidade” ao conceito, subversivo e ideologicamente negativo, de raça. As elites brasileiras se plasmaram com o escravagismo. Praticaram, com impunidade, a relação senhor-escravo. Tentaram colocar um biombo que encobrisse essa matriz e a justificaram, afirmando que era melhor ser escravo no Brasil que na África. Afinal, a escravidão foi o padrão social dominante da África; as fontes de fornecimento foram os sobas e os chefes africanos.
A Igreja Católica se esqueceu que o mais antigo rei católico do mundo era preto e desta cor era também um dos três reis magos. Considerava mais fácil a catequese do africano no Brasil do que em seu continente de origem – e participou do regime escravocrata. O Brasil recebeu de três a cinco milhões de escravos africanos.
Em 1850, a população servil era de um milhão de escravos; em 1872, a população brasileira era de 10 milhões, sendo quatro milhões de pardos e dois milhões de pretos.
Logo após a Abolição, o Brasil tinha 14 milhões de brancos, sendo um milhão de imigração ultra-recente, dois milhões de pretos e seis milhões de pardos. Os lusos vinham para o Brasil sem mulheres; na importação de escravos, havia uma relação de 3 para 1 entre homens e mulheres. Na Colônia, era imensa a falta de mulher. Alberto Costa e Silva gosta de sublinhar – e com razão – que a principal contribuição ameríndia foi fornecer o ventre aos lusos que, pela mesma razão, tiveram a companhia das pretas escravas. Gerações de mestiços se multiplicaram. Esta é a explicação prosaica do Brasil multicolorido.
A pobreza pesa mais sobre o contingente de pardos e pretos brasileiros. Este fato é de fácil explicação: a Abolição não foi acompanhada de Reforma Agrária, o plano de André Rebouças não prosperou. Entretanto, para a atração de mão-de-obra européia, o primeiro movimento de sedução de imigrantes alemães e italianos foi a concessão de terras pelo Império para que surgissem colônias de produtores rurais familiares. Grande parte da região Sul foi ocupada por colonos europeus. A República Velha não instituiu o ensino público gratuito e de qualidade, que foi necessário, nos anos 30, no Estado Novo, para proteger o trabalhador urbano.
Gerações de pardos e pretos nasceram na pobreza e nela permaneceram por uma observação banal: quem nasce pobre tem mais alta probabilidade de continuar sendo pobre. Não é o racismo que explica esta situação. Mestiços foram dignitários do Império. O mulato Barão de Cotegipe foi chefe de gabinete de D. Pedro II. Provavelmente, possuía escravos.
Após a Primeira Guerra Mundial, cuja hecatombe dissolveu a empáfia eurocêntrica, os intelectuais brasileiros descobriram o Brasil mestiço. Gilberto Freyre é o teórico e pesquisador sem romantismo desta produção em massa do brasileiro de todas as cores. Oswald de Andrade e tantos outros definiram o Brasil como o país da mistura. Nos orgulhamos desta dimensão, que é a herança positiva da longa história da escravidão.
* Artigo publicado no jornal Valor Econômico, de 25 de outubro
** Professor titular de Economia Brasileira da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 4.000 a 4.500 caracteres (sem espaços) ou de 57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. |