| |
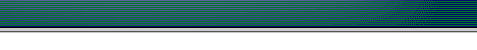  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1569 - Ano 33
19.3.2007
 Carlos Alberto Tavares
Carlos Alberto Tavares
Foca Lisboa 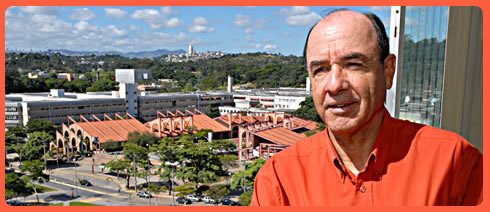 |
| Carlos Alberto: política para tornar o Brasil mais competitivo |
Ana Maria Vieira
etentor de um quinto da biodiversidade mundial, o Brasil ainda encontra dificuldades em usufruir e conservar esse patrimônio. Para preencher essa lacuna, representantes do governo, academia e indústria buscam, há anos, caminhos que permitam explorar esse segmento e competir no mercado internacional. Parte da resposta veio em fevereiro, quando propostas desses grupos deram forma ao documento Política de Biotecnologia: proteção e desenvolvimento, assumido pelo governo federal como sua própria política, e para a qual destinará R$ 10 bilhões nos próximos dez anos. Em entrevista ao BOLETIM, o pró-reitor de Pesquisa, Carlos Alberto Tavares, reflete sobre o plano e seus impactos na academia.
Em que consiste o cerne da política de biotecnologia?
O Plano Nacional de Biotecnologia é um conjunto de ações estabelecidas pelo governo federal para consolidar a biotecnologia no Brasil. Essa política procura coordenar e focar o que é mais importante para o desenvolvimento nacional. Uma das intenções é substituir importações em segmentos estratégicos, tornando o país independente e competitivo.
Grande parte da produção científica no país é feita em parceria com centros estrangeiros. Essa política de biotecnologia não deixa a impressão de estarmos caminhando em direção oposta a uma tendência que busca romper barreiras nacionalistas?
De fato, temos muitos professores que trabalham com empresas, agências financiadoras e de fomento científico estrangeiras, como o Instituto Nacional de Pesquisa dos EUA. Contamos, ainda, com pesquisadores que mantêm projetos com a comunidade econômica européia. Mas estamos atentos ao problema da produção e da proteção do conhecimento, inclusive em acordos firmados com laboratórios do exterior. Acabamos de assinar contrato com uma empresa italiana de medicamentos e a negociação foi feita dentro dos padrões de proteção intelectual.
A UFMG foi uma das primeiras do país a contar com um escritório de patentes. Que gargalos o senhor observa nesse campo?
Um deles é a lentidão no processo de concessão de patentes pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Há patentes que estão na fila há dez anos. Isto está melhorando, pois o INPI foi reestruturado e contratou funcionários para agilizar os processos. Na UFMG, a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) atua muito nessa área e tem oferecido assessoria a outras universidades na montagem de escritórios. Também trabalhamos com a Fapemig e a Biominas para melhorar o ambiente de proteção à propriedade intelectual em Minas Gerais.
O fato de Minas Gerais não ter um parque industrial mais diversificado torna difícil para a Universidade a tarefa de transferir tecnologia?
Esse é um aprendizado que, aos poucos, está se concretizando. Mantemos contratos com indústrias de vários estados, não só de Minas Gerais, mas com a indústria de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na área farmacêutica, a primeira transferência foi feita para empresas paulistas.
Que distorção o senhor apontaria no modelo de transferência de tecnologia no país?
A geração do conhecimento no Brasil está centrada em universidades e institutos de pesquisa, ao contrário do que ocorre na Coréia, EUA e Europa, onde a inovação é feita sobretudo nas empresas. Talvez as indústrias brasileiras sejam mais imediatistas, querem resultado a curto prazo, o que não é possível na maior parte das pesquisas. Mas temos de mudar esse cenário, fazendo com que as indústrias contratem doutores e estabeleçam centros de pesquisa.
Como o senhor recebeu o anúncio de que o governo vai investir R$10 bilhões em biotecnologia nos próximos dez anos?
O volume de recursos para pesquisa no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos. O que a gente espera é que sejam disponibilizados recursos, inclusive para a UFMG, que venham se somar aos já existentes, por conta dessa nova política. O problema é que investimentos em biotecnologia são, de maneira geral, de alto risco, e a indústria tem receio de alocar recursos nessa área.
Por que essa é uma área de alto risco?
Quem trabalha com software tem quase 100% de certeza de que vai chegar a um produto final. Em biotecnologia, a lógica é outra. Milhões são gastos em uma vacina e ela pode não se concretizar. O mesmo pode ocorrer com um kit diagnóstico que, ao final do processo de desenvolvimento, corre o risco de não apresentar a qualidade desejada.
O senhor concorda com a definição das áreas estratégicas estabelecidas pelo plano: meio ambiente, saúde, indústria e agropecuária?
Sim. São áreas em que o Brasil tem competência, necessidade de maior desenvolvimento ou de manter a competi- tividade. Na área de saúde humana, é preciso aperfeiçoar a nossa indústria de hemoderivados, pois a importação é muito grande. Também precisamos melhorar e ampliar a indústria de kits diagnósticos. O mesmo raciocínio vale para a área de vacinas humanas. E não há dúvida de que a área ambiental é importante: temos que explorar nossa biodiversidade para produzir fármacos e cosméticos. Mas um dos problemas do plano é não prever investimentos em biotérios para produzir animais certificados a pesquisas.
Quando o documento foi lançado, grupos se queixaram de que a universidade se restringiria a atender à indústria. Que leitura o senhor faz dessa polêmica?
O conhecimento gerado nas universidades pode ser rapidamente utilizado ou apropriado num processo chamado de ciência aplicada – não gosto muito do termo, ciência é ciência, básica ou aplicada. Temos vários exemplos de laboratórios na Universidade que fazem pesquisa básica e, ao mesmo tempo, desenvolvem pesquisa aplicada: publicam nos melhores periódicos internacionais e detêm patentes de kits diagnósticos para doenças humanas. Não existe competição, mas complementaridade.