| |
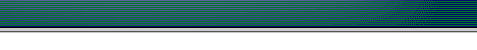  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1663 - Ano 35
17.8.2009
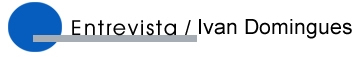
Ana Maria Vieira
Coordenador do colóquio que se abre nesta segunda-feira, na UFMG, Ivan Domingues reflete, nesta entrevista ao BOLETIM, sobre as linhas de pensamento adotadas no debate sobre os impactos da biotecnologia na vida humana. Professor de filosofia na federal mineira, o pesquisador, dedicado a temas ligados à teoria do conhecimento, filosofia da técnica e à relação entre ética e conhecimento, observa que, no país, a discussão sobre o tema ainda é incipiente e credita o problema à pouca tradição do ensino superior entre nós. “A universidade no Brasil mal tem 100 anos”, observa.
Precisamos tomar cuidado quanto a isso. No evento da UFMG, o esforço é pensar a ética das – ou para as – novas biociências e a condição humana. Creio que, para compreender o problema, temos de considerar as ciências e as tecnologias, ou tecnociências, como um sistema. A dependência entre as tecnologias e as ciências é enorme, por exemplo, nas áreas de exatas e biológicas. Essa relação possui feedback, logo, temos aí um sistema dinâmico. Isso leva a pensar as tecnociências como uma força social, sistema que põe um poder extraordinário nas mãos dos seres humanos, ampliando o horizonte de sua ação e convocando a ética a se pronunciar sobre muitas questões, como a seleção de sementes e o melhoramento genético. Quando a ciência é isolada da tecnologia, o que entra em jogo? A ciência tem várias dimensões: é um discurso, uma experiência, uma ação e uma instituição. Se reunirmos todas essas dimensões, é possível pensá-la com pertinência em toda a sua extensão. Fica claro que a ética vai entrar em vários lugares. Logo, aquela ideia segundo a qual a ciência é isenta de valores, neutra e desinteressada se despedaça. Com o advento das tecnociências, isso não faz sentido. Ciência é uma força social. Produz tecnologia, interfere no mundo humano e tem implicações de toda sorte. O tema da neutralidade e da isenção possui abrangência muito limitada. É possível neutralizar todos os valores? Não. Os valores epistêmicos estão subjacentes e comandam essas operações: a busca da verdade, a exigência de objetividade e a noção da ciência como um bem da civilização. É possível neutralizar valores ideológicos, políticos, morais, mas não os valores epistemológicos. Por esse motivo, muitas vezes o debate entre ética, ciência e tecnologia é deslocado e confuso.
A moral utilitarista, pragmatista, ganhou o debate e se impôs nas atividades científicas. Não sei se é a melhor moral, mas a maioria dos cientistas, sabendo ou não, a segue. E este evento aqui na UFMG será a oportunidade para discutir esta moral e outras.
Há, sim, essa dimensão, que procura dar uma mensagem humanista ao processo. Só que, no meu modo de ver, ela é meio enviesada. A moral utilitarista, no sentido estrito, é consequencialista – se pauta pelo exame do custo-benefício envolvendo as consequências das ações. Mesmo dentro do utilitarismo nem sempre é claro que a tecnologia é algo bom, pois ela pode resultar em coisas ruins. Além do mais, há outras éticas que disputam com a moral utilitarista e que são importantes.
A moral deontológica kantiana seguida por muitos intelectuais põe o dever acima do cálculo. Muitas vezes vê nas ações das biotecnologias algo perigoso, porque pode levar à instrumentalização do ser humano. Aí a discussão fica acirrada. O extremo oposto do consequencialismo é a deontologia.
Entre esses dois extremos há outras morais. Como as morais neoaristotélicas prudenciais. Elas não examinam só o custo-benefício; pautam as decisões com base em outros princípios. Além do tema da qualidade de vida e do bem-estar, compartilhado com as morais utilitaristas, elas estão associadas à prudência. As morais prudenciais são extremamente fortes e hegemônicas nos comitês de ética, que seguem o princípio da precaução. E há aí uma nuance: precaução é diferente de calcular custo-benefício.
O que está em jogo é o seguinte: como pensar uma ética para essas situações novas geradas pelas tecnociências, sabendo que a antiga ética está defasada? Por isso, é preciso carregar no neo: neokantiano, neoaristotélico... A velha ética passava ao largo da ciência e da tecnologia e, até o início da era moderna, era muito influenciada pela ética religiosa. Isso afeta o debate até hoje e pode levar a impasses incontornáveis. A ciência e a tecnologia pedem uma ética secular.
A minha preocupação é que hoje se pede ética para tudo. Mas pode haver uma grande frustração. A ética não é poderosa assim, não vai ter esse poder de regular as ações humanas. Há outras dimensões importantes, como o direito e a política.
O Brasil chegou um pouco tarde a essas discussões. Por um lado, é preciso considerar que nossas universidades mal têm 100 anos e a pesquisa forte mal chega aos 40 anos. Por outro lado, não podemos ignorar que a questão religiosa vem travando esse debate ao longo do tempo.
Quando falo que há uma discussão deslocada que muitas vezes confunde, penso também em Habermas, que diz que a tecnologia acaba com a liberdade, com a autonomia do indivíduo, e coloca-o nas mãos do grande programador. É uma maneira pessimista de ver as coisas. Entendo que é bastante confusa a articulação que ele faz entre a ética do discurso e a ética da espécie ao voltar com a natureza humana.
Porque o Estado não é nazista. Eugenia, programação, isso pode existir em toda parte. Mas a experiência totalitária não pode ser desprezada. Ela pode voltar.
Pode ocorrer, não estou falando que isso ocorrerá. Mas o problema não será resolvido com base em uma eugenia liberal, em que o indivíduo vai ao supermercado e compra o seu melhoramento, sua seleção, sua prole. Sob esse aspecto, a reserva de Habermas faz sentido.