| |
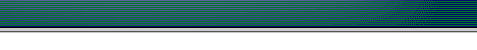  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1568 - Ano 33
12.3.2007

Dolly faz dez anos. E agora? *
Lygia da Veiga Pereira**
![]()
m 27 de fevereiro de 1997, um grupo de cientistas do Reino Unido anunciou o revolucionário nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero gerado por clonagem, técnica que cria uma cópia genética de um indivíduo. Imediatamente, pseudo-cientistas declararam sua intenção de fazer clones humanos, despertando, no imaginário de todos, pesadelos de exércitos clonados ou milagres como a ressurreição de pessoas queridas, e iniciando a polêmica: “clonar ou não clonar, eis a questão”.
Nestes dez anos, aprendemos muito – com clones de ratos, vacas, cavalos, gatos e cachorros, entre outros – sobre a ineficiência e a insegurança da clonagem como forma de reprodução. Hoje, os únicos que ainda ousam defender publicamente seu uso em seres humanos pertencem a uma seita religiosa que acredita que a humanidade surgiu a partir de seres extra-terrenos.
Mas Dolly foi, sim, um marco na história da ciência, um daqueles raros e fascinantes momentos em que um paradigma é quebrado. Até então, acreditava-se que a identidade de uma célula (músculo, neurônio, sangue etc.) era algo imutável. Ou seja, que, por exemplo, uma célula de sangue só sabia ser célula de sangue, apesar de ter em seu núcleo um genoma completo, toda a informação para ser qualquer tipo de célula.
Ao ser gerada a partir de uma célula de mama, Dolly foi a demonstração da capacidade de uma célula ser reprogramada, de acessar toda a informação genética em seu núcleo, dando origem a outros tipos de células, e até a um indivíduo completo. Esta descoberta abriu perspectivas de desenvolvimento de terapias baseadas na reprogramação celular para a geração de tecidos para transplantes.
Assim, desde 1997, a comunidade científica defende, sim, um tipo de clonagem humana, aquela para fins terapêuticos. A clonagem terapêutica visa a reprogramar uma célula adulta para que ela seja capaz de se transformar em qualquer tipo de célula. Para isso, são produzidos embriões clonados e deles retiradas as células-tronco embrionárias. A partir destas células, podemos, no laboratório, gerar tecidos para o tratamento de diferentes doenças, desde diabetes e doenças cardíacas até paralisia por trauma de medula espinhal.
Porém, como estas pesquisas envolvem a destruição de um embrião humano de cinco dias – um conglomerado de aproximadamente cem células – uma nova e mais real polêmica surgiu no mundo: este embrião é uma vida humana ou não? Ora, é claro que ele é uma forma de vida, tal como um óvulo e um espermatozóide também o são. A vida humana é um contínuo, que começou há alguns milhões de anos quando uma macaca deu à luz um bebê diferente, um pouco mais inteligente que seus irmãos (ou quando Deus criou Adão, o que preferirem), e segue até hoje em cada um de nós.
A real questão é: em quais formas de vida humana nós nos permitiremos interferir? Já determinamos algumas: por exemplo, no Brasil reconhecemos como morta uma pessoa com morte cerebral, apesar de seu coração ainda bater. Esta é uma decisão arbitrária e pragmática, que nos facilita o transplante de órgãos. Porém, não é compartilhada por outros povos que só consideram morta a pessoa cujos órgãos vitais pararam de funcionar. Indivíduos que cometem crimes hediondos também são uma forma de vida humana passível de ser eliminada em alguns países, através da pena de morte. E no outro extremo da vida humana, durante o desenvolvimento embrionário? Ao proibirmos o aborto, estabelecemos como inaceitável a destruição de um feto.
Porém, no que diz respeito às células-tronco, o embrião em questão é muito menos complexo, ainda não tem forma e está numa proveta, não tendo sido implantado no útero. De novo, que formas de vida humana toleraremos destruir? É curioso observar que esta polêmica tenha surgido somente agora com a possibilidade de usar embriões humanos para fins terapêuticos. Na verdade, a questão sobre o destino desses embriões surgiu com o nascimento do primeiro “bebê de proveta”, em 1978, quando se comemorou o advento de técnicas de reprodução assistida. Sim, há quase 30 anos em todo o mundo esta prática médica gera embriões humanos utilizados para fins reprodutivos e acabam sendo congelados ou simplesmente descartados – e viemos convivendo com este fato com muita tranqüilidade.
Por que só agora, quando estes embriões esquecidos em congeladores podem nos ajudar a entender melhor a biologia humana e a achar novos tratamentos para doenças – ou seja, a gerar mais vida –, se tornou inaceitável destruí-los? Foi muito conveniente ignorar os embriões excedentes da reprodução assistida, pois afinal esta técnica permitiu que milhares de casais com problemas de fertilidade realizassem o sonho de ter filhos. Enquanto isso, o uso das células-tronco embrionárias para tratar um enfarte ou ajudar um paralítico a recuperar os movimentos das pernas ainda está restrito a animais de laboratório. Talvez no dia em que estas células estiverem efetivamente sendo usadas em pacientes seja mais difícil proibir o uso terapêutico daqueles embriões não desejados por seus pais biológicos.
No Brasil, as polêmicas da clonagem foram resolvidas na Lei de Biossegurança de 2005, que proíbe a clonagem humana, mas permite o uso para pesquisa de um número finito de embriões, aqueles congelados até março de 2005 e que estejam congelados há pelo menos três anos.
Se, por um lado, temos uma limitação importante do número de embriões disponíveis, esta é uma solução temporariamente aceitável, que permite o desenvolvimento das pesquisas com células-tronco embrionárias no país.
Se um dia as promessas terapêuticas destas células se tornarem uma realidade, deveremos rever esta lei. Até lá, é preciso aproveitar a rara vantagem competitiva brasileira, que é a nossa legislação não proibitiva, e incentivar as pesquisas com células-tronco embrionárias, através de financiamento consistente do governo e da iniciativa privada.
Dolly comemorou seu aniversário de 10 anos empalhada no Royal Museum de Edinburgo. Não podemos jurar que sua morte precoce tenha resultado da clonagem, mas essa questão merece ser investigada. Que ela seja um monumento à curiosidade, à persistência e ao desenvolvimento científico ousado, mas responsável, voltado à melhoria da qualidade de vida humana.
*Artigo publicado em O Estado de
São Paulo, em 4 de março
**Professora e chefe do Laboratório
de Genética Molecular do Instituto de Biociências da USP
Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 4.000 a 4.500 caracteres (sem espaços) ou de 57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira. |