| |
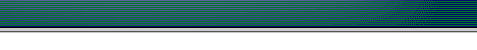  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1887 - Ano 41
01.12.2014
Encarte
Marcos Fabrício Lopes da Silva*
Existe um notável e histórico empenho social pela causa da responsabilidade argumentativa na mídia. Jornalismo e desinformação (2000), escrito por Leão Serva, por exemplo, apresenta argumentos valiosos nesse sentido. Segundo o autor, o jornalismo tem como matéria-prima o fato novo, desconhecido, que pode causar surpresa. A surpresa pode ser compreendida como o resultado do aspecto nonsense do fato noticioso. Há inúmeros ditos populares que ressaltam a disposição da mídia para revelar o que sai do normal: No news is good news (a ausência de notícias é uma boa notícia), dizem os ingleses, implicitamente ressaltando o que diz outro ditado, este mais usado por jornalistas: good news is no news (boa notícia não é notícia). Outro ditado diz algo semelhante, de forma mais irreverente: “se um cachorro morde um homem, não há notícia. Se o homem morde o cachorro, isso é notícia”.
Serva explica que a novidade é a alma do negócio da imprensa. Nessa busca pela novidade, mesmo velhos fatos devem aparecer vestidos de novos, maquiados para voltar a surpreender. Eis, então, como a imprensa costuma receber as novidades: com o destaque de um invento, tão luminoso que ofusca a memória do passado, omitindo as circunstâncias determinantes do fato. Os meios de informação, portanto, criam clones dos fatos, parecidos com seu objeto apenas o suficiente para que haja verossimilhança. São fatos que se esgotam, quando cumprida a sua missão efêmera, e que, em seguida, devem ser destruídos: fisicamente, diz-se que os jornais do dia anterior “servem apenas para embrulhar peixe”; psicologicamente, sua memória será substituída por uma novidade no dia seguinte. Conforme destaca Rubem Fonseca, em Mandrake (2005): “No dia seguinte os jornais já não dão destaque [...] Tudo cansa, meu anjo, como dizia o poeta inglês. Os mortos têm que ser renovados, a imprensa é uma necrófila insaciável”.
Tempos sombrios de velocidade da informação desacompanhada de qualidade de compreensão estão sendo promovidos por uma linha editorial que destaca o vulgar e rejeita o importante. A imprensa vem se distanciando cada vez mais do seu papel social, ao promover, por conta da síndrome da novidade, assuntos e valores supérfluos. O filósofo Walter Benjamin, em Experiência e pobreza (1933), lamentava com pesar: “Ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’”. Sobre semelhante conjuntura, Cazuza e Arnaldo Brandão, em O tempo não para (1988), fizeram alerta certeiro e, assustadoramente, válido: “Tuas ideias não correspondem aos fatos/O tempo não para/Eu vejo o futuro repetir o passado/Eu vejo um museu de grandes novidades/O tempo não para/Não para, não, não para”.
O que escreveu Machado de Assis, em O jornal e o livro (1859), corre o risco de ser apenas uma fotografia na parede: “O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual, em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e fogo das convicções. [...] O jornal é a liberdade, é o povo, é a consciência, é a esperança, é o trabalho, é a civilização”. Infelizmente, situado no domínio da linguagem pragmática da comunicação, o jornalista tangencia o temperamento artístico que permite a desautomatização dos processos perceptivos tornados naturais pelos indivíduos. A mídia carece, portanto, de uma postura poética e ética que possa estimular de fato um modo analogicamente intenso de ver e dar a ver, voltado para subtração do sujeito de seu isolamento egoico pelo contato com outras formas de realização do real.
Diante do comportamento irresponsável de setores arrogantes da mídia, as vozes descontentes se avolumam com razão. Ao tratarem o público inteligente como massa amorfa, os meios de comunicação ficam marcados por uma lista de negativas, assim enumeradas por Luiz Beltrão, em Sociedade de massa: comunicação e literatura (1972): a) “não tem originalidade”; b) “não usam os melhores cérebros ou os talentos mais vigorosos”; c) “não imprimem ou transmitem o melhor material que lhes é submetido”; d) “não dão ao público informação bastante ou adequada sobre os graves problemas do nosso tempo”; e) “seu nível estético é terrível; a verdade é sacrificada ao fim feliz; o escapismo exaltado, a violência e o melodrama prevalecem”; f) “corrompem e adulteram o gosto do público, criando o tipo de audiência que se compraz com divertimento barato e trivial”; g) “são dominados – ou demasiadamente influenciados, pelos anunciantes; e não fornecem o foro adequado para ponto de vista das minorias – os dissidentes e heterodoxos”.
É lamentável ver todo o esforço ético de qualificar a liberdade de expressão, evocando princípios fundamentais de responsabilidade argumentativa, ser tratado como censura. Aqueles que, historicamente, alimentam-se da mídia de cabresto, querem esconder da opinião pública o seguinte fato noticiado por Eugênio Bucci, no livro Ética e imprensa (2000): “os piores problemas da imprensa brasileira são problemas construídos no interior das empresas de comunicação por forças e interesses que ultrapassam o domínio de uma redação e nada têm a ver com os interesses legítimos de seus telespectadores, leitores, ouvintes”. Enquanto permanecer esse quadro espúrio, a sociedade continuará expressando sua insatisfação com a vigilância crítica que lhe é de costume. A população, sábia e sabida, desmascarou o sistema: “O povo não é bobo! Abaixo a Rede Globo”. Bordão consciente que se soma a este por nós sugerido: “O povo não é besta! Abaixo o que vem da Veja!”
* Jornalista, poeta e doutor em Estudos Literários pela Faculdade de Letras da UFMG. Professor da Faculdade JK, no Distrito Federal.