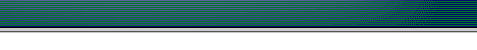  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1671 - Ano 36
12.10.2009

José Eli da Veiga**
Um país como o Brasil só poderá se tornar desenvolvido neste século se for simultaneamente competitivo e ambientalmente sustentável. Competitivo no âmbito de globalização pautada pela ressurreição da China. Ambientalmente sustentável em contexto energético determinado pela transição ao baixo carbono. Por isso, não pode continuar tão débil a percepção pública de que essas duas exigências dependem de idêntica opção estratégica. Há de conseguir que toda a sociedade coloque foco neste trio: ciência, tecnologia e inovação (CT&I).
O maior obstáculo é que, ao se enfatizar CT&I como viga mestra da estratégia de ecodesenvolvimento, o reflexo imediato é supor que os investimentos públicos iriam se concentrar apenas nas atividades do Ministério e das secretarias estaduais de Ciência e Tecnologia. E nada poderia ser mais equivocado do que essa apressada dedução, pois o desafio é quase inverso. O esforço será justamente levar a sociedade a perceber que o foco em CT&I sequer seria possível em abordagem setorial.
Não adiantará atribuir a tarefa a um pequeno subsistema isolado. Querer que CT&I seja foco estratégico significa que todas as estruturas governamentais, empresariais e associativas precisarão assumir esse trevo como prioridade. E será uma tarefa gigantesca. Talvez menos em áreas econômico-financeiras, educacionais ou da saúde. Mas que certamente enfrentará fortes resistências conservadoras, além da inércia dos preconceitos, em inúmeros nichos acomodados às chamadas zonas de conforto, mais avessos à inovação.
Mesmo propensos a aceitar novidades com origem em conhecimentos tácitos e até dispostos a adotar soluções tecnológicas já comprovadas, muitos desses grotões sociais desconfiam de laboratórios e pesquisadores. São cinco os séculos de passividade cognitiva que podem explicar por que continuam raras as empresas brasileiras que investem em pesquisa e desenvolvimento (P&D).
E para ilustrar a importância decisiva da focalização estratégica em CT&I, não há questão mais reveladora que a da transição ao baixo carbono, nome de batismo tardio para um processo que já tem mais de 35 anos. A melhor maneira de se dar conta de sua evolução é prestar atenção à chamada “intensidade-carbono” das economias: a quantidade por unidade de produto de emissões de dióxido de carbono provenientes do uso de energias de origem fóssil. Isto é, desconsideradas as emissões de gases de efeito estufa causadas por desmatamentos, queimadas, pecuária, arrozais, represas de hidrelétricas etc.
No período 1980-2006, essa intensidade-carbono caiu mais do que um terço no clube dos países considerados desenvolvidos. De pouco mais de 600 gramas por dólar (g/$) para pouco menos de 400. Isso não vale para alguns sócios cuja decolagem foi muito tardia. Como Portugal, por exemplo, que em 1980 tinha baixíssima intensidade – 239 g/$ – e a aumentou para 323 em 2006. Ou a Grécia, onde ela passou de 347 para 409 g/$. Mas com a notável exceção da Espanha, onde caiu de 417 para 357 g/$.
Os melhores desempenhos ocorreram em minúsculas e privilegiadíssimas nações. Como em Luxemburgo, onde a intensidade despencou de 1,3 kg/$ para apenas 424 gramas/$ (-67%). Ou na recordista Suíça, onde ela já era das mais baixas em 1980 – 289 g/$ – e ainda diminuiu muito, chegando a 183 g/$ em 2006 (-37%).
Todavia, houve excelentes desempenhos em economias maiores e mais complexas. No Reino Unido e França houve cortes de 50%. De 631 para 313 g/$, e de 484 para 241 g/$, respectivamente. Elas foram seguidas por reduções superiores a 40% na Dinamarca, Irlanda, Finlândia, EUA e Bélgica. Quedas menores, mas próximas da média do clube (um terço), ocorreram no Canadá, Noruega, Holanda e Japão.
Evidentemente, foram bem mais díspares as trajetórias dos países do segundo mundo, ditos emergentes. O principal destaque é a China, com queda de intensidade simplesmente espetacular. Ela era a lanterninha em 1980, mas teve a segunda maior descarbonização do mundo, só perdendo para a do anão Luxemburgo, de 65%, caindo da terrível marca de 3,1 para 1,1 kg/$. Também houve quedas bem significativas, ainda que inferiores, no Chile, México, Indonésia e até na Índia.
No extremo oposto, a pior evolução foi a da África do Sul, que já tinha uma das mais altas intensidades em 1980, e ela ainda subiu. Em 26 anos passou de 1,5 kg para 1,7 kg (+13%). Trajetória seguida pelos exportadores de petróleo, como o Irã, com pulo de 115%: de 403 para 866 g/$. Ou o Iraque, com salto triplo de 213%: de 480 g/$ para 1,5 kg/$.
No Brasil, a intensidade subiu tanto quanto na África do Sul (+13%), mas de um patamar inicial muitíssimo inferior: de 237 g/$ para 268 g/$.
De qualquer forma, toda essa diversidade não deve encobrir o âmago da questão. Nesse período, o declínio global da intensidade-carbono foi da ordem de um quarto. O CO2 emitido por uso de energias fósseis por dólar de PIB caiu de pouco mais de um quilo para 770 gramas. Nesse contexto, o Brasil precisará enfrentar dois gravíssimos problemas. Em curto prazo, zerar suas emissões mais jurássicas, que não entram nessas contas por resultarem de desmatamentos e queimadas, assim como minimizar várias outras que são provenientes da agropecuária, e para as quais as soluções são baratas práticas agronômicas e veterinárias. E em médio prazo, evitar a dependência de transferências de tecnologia quando o principal desafio passar a ser a contenção de emissões resultantes do uso de energias fósseis. Certo é que isso não vai ocorrer se muito antes não tiver sido colocado foco na CT&I.
Daí por que as rendas naturais da exploração do pré-sal que não sofram de restrições constitucionais precisarão ser integralmente reservadas para esse fim, mediante criação de um fundo que já deveria estar sendo chamado de socioambiental. Será absurdo pulverizá-las em destinações que podem ser das mais nobres, mas que impedirão a sociedade de ter foco naquilo que neste século será absolutamente decisivo para seu desenvolvimento.
* Artigo publicado no jornal Valor Econômico em 29 de setembro.
** Professor da Faculdade de Economia da USP.
Esta página é reservada a manifestações da comunidade universitária, através de artigos ou cartas. Para ser publicado, o texto deverá versar sobre assunto que envolva a Universidade e a comunidade, mas de enfoque não particularizado. Deverá ter de 4.000 a 4.500 caracteres (sem espaços) ou de 57 a 64 linhas de 70 toques e indicar o nome completo do autor, telefone ou correio eletrônico de contato. A publicação de réplicas ou tréplicas ficará a critério da redação. São de responsabilidade exclusiva de seus autores as opiniões expressas nos textos. Na falta destes, o BOLETIM encomenda textos ou reproduz artigos que possam estimular o debate sobre a universidade e a educação brasileira.