| |
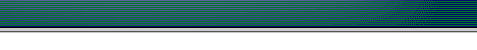  |
|
|||
|
|
||||
Nº 1907 - Ano 41
08.06.2015
Encarte
Itamar Rigueira Jr.
O livro História de Portugal restaurado, escrito pelo Conde de Ericeira e publicado em 1679, trata da independência de Portugal do jugo espanhol, em 1640. Na segunda metade do século 18, foi obra de referência para aqueles que se empenhavam em legitimar a dinastia dos Bragança. Mas serviu também para subsidiar argumentos dos inconfidentes mineiros a partir de 1788.
Entre muitas outras, a curiosa história dessa obra é contada e analisada pelo professor Luiz Carlos Villalta, do Departamento de História da Fafich, em Usos do livro no mundo luso-brasileiro sob as Luzes: reformas, censura e contestações (Fino Traço Editora), que será lançado em Belo Horizonte ainda neste mês. Villalta reflete sobre os usos do livro no período de 1750 a 1808, época do Reformismo Ilustrado Português.
“O Iluminismo foi incorporado explicitamente pela Coroa e por letrados que serviam ao rei para a formulação de medidas reformistas. O objetivo era tirar o mundo luso-brasileiro do ‘atraso’”, explica o pesquisador, que ampliou trabalho iniciado para o doutorado na USP, há mais de 15 anos.
A empreitada de Villalta não se limita aos usos políticos do livro. Ele começa por lembrar que os livros eram mercadoria, vendida tanto por agentes especializados quanto por mercadores de secos e molhados, por exemplo. Como o Brasil não tinha prelos até 1808, chama a atenção a circulação dos volumes entre a Europa e a colônia, transportados ou enviados muitas vezes por comerciantes de ocasião, que o faziam por favor ou em busca de lucro. O autor não se esquece tampouco de destacar a função dos livros como fonte de informação – para profissionais como médicos, navegadores e padres – e de entretenimento, especialmente no caso da prosa de ficção.
Luiz Carlos Villalta percorreu arquivos como os da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional, em Lisboa, para descobrir histórias como a do eremita João Lourenço, que se dizia o “Encoberto” (espécie de Vice-Cristo) e filho do rei D. João V. Na então Vila do Príncipe (atual Serro), em meados do século 18, ele pregava a libertação de escravos e índios, o fim de tributos e o combate aos mouros. Foi preso, denunciado à Inquisição, mas solto mais tarde, apontado como louco.
“Esse é um exemplo do uso do livro, no caso a Bíblia, para proposições messiânicas e heréticas. Uma história similar é a de Pedro Rates Henequim, que sonhava com a instauração do ‘quinto império do mundo’, planejava revolta e acabou queimado pela Inquisição”, comenta Villalta, que coordena a pós-graduação em História, na Fafich.
O pesquisador dá ênfase, em sua obra, à censura que atingia a impressão, circulação, posse e leitura. O acesso à produção, ao comércio e ao conteúdo dos livros proibidos era símbolo de status e poder. Os volumes eram, segundo ele, objeto de desejo de leitores que se diziam “bons súditos” e argumentavam que o conhecimento de certas obras lhes daria elementos para defender a Igreja e a Coroa.
Ainda a respeito do controle sobre os livros, Villalta explica que a escolha do recorte temporal para a pesquisa se deve também a uma mudança importante ocorrida em 1768. “Foi criada a Real Mesa Censória, com poder exclusivo de censura, em substituição à Inquisição, aos Tribunais Eclesiásticos e ao Desembargo do Paço. A medida provocou protestos do papado”, diz.
A pesquisa revela que, embora o acesso aos livros, na segunda metade dos 1700, fosse reservado, sobretudo, a homens livres, mulheres, escravos e forros também eram leitores críticos. Villalta encontrou evidências de que, no final do século, na Bahia, forros memorizaram textos proibidos que os inspiraram para a Conjuração dos Alfaiates, de 1798. Outra história exemplar é a da Marquesa de Alorna, presa porque sua família esteve envolvida em atentado contra D. José I. Ela pediu licença à Coroa para receber livros, que naturalmente foi negada, mas ainda assim conseguiu que muitas obras de acesso restrito chegassem à sua cela, num convento de Lisboa.