Cultura
A rua como tela e palco
Itamar Rigueira Jr.
Pinturas com spray, duelos entre rappers, dançarinos veteranos de soul e um novo gênero literário se apropriam e transformam o cenário urbano
Uma tese recorrente no debate sobre o tema é a de que a cidade precisa das manifestações artísticas, porque ela não pode ser pensada apenas como espaço funcional controlado pela economia. “A cidade não pode ser só concreto e regras, e a única forma de desconstruir essa lógica é a apropriação humana”, diz a professora de arte Maria Luiza Viana, graduada pela Escola de Belas-Artes da UFMG, onde fez também o mestrado. Sua pesquisa sobre o grafite culminou na dissertação “Dissidência e subordinação: um estudo dos grafites como fenômeno estético/cultural e seus desdobramentos”. De acordo com Maria Luiza, a arte pública, que tira as pessoas do comum, do regular, nem sempre é entendida como arte – muitas vezes é tratada como vandalismo ou apenas uma forma de dizer coisas.
Como educadora da rede pública municipal e com passagem pelo Projeto Guernica – que propiciou o debate sobre pichação e grafite em Belo Horizonte –, Maria Luiza Viana se aproximou desse tipo de linguagem e resolveu investigar a trajetória dessas manifestações e o que está por trás delas. Se a pichação é basicamente uma forma de diálogo entre grupos, para os quais vale tudo, o grafite busca uma comunicação com a cidade. De qualquer forma, o objetivo é sempre marcar lugar no espaço e traduzir o modo de pensar e estar no mundo. Segundo a professora e pesquisadora, os artistas da rua, seja qual for sua expressão, querem compartilhar isso com o espaço e as outras pessoas.
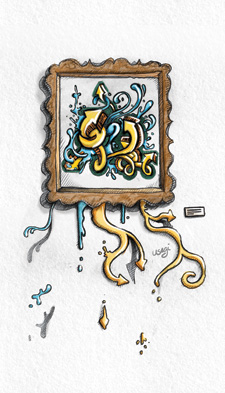 André Coelho
André Coelho
Grande parte do atual movimento do grafite, inclusive no Brasil, explodiu com minorias negras nos Estados Unidos: a periferia reivindicava participação na vida da sociedade. Essa vertente norte-americana, de acordo com Maria Luiza Viana, é ligada ao hip-hop, corrente mais ampla que inclui a música (rap) e a dança (break), entre outros elementos. Nos anos 1960 e 70, o grafite teve tom fortemente político, como linguagem dos jovens contra ditaduras, e, em maio de 68, apareceu com força na Europa. Em seu trabalho de mestrado, Maria Luiza se utiliza de referências bem mais antigas para refletir sobre a necessidade do homem de desenhar e pintar para os outros: ela lembra as pinturas rupestres e o interesse de Picasso por uma arte chamada de ordinária, não sacralizada, feita no ambiente comum da cidade. O gênio espanhol incorporou em sua pesquisa estética rabiscos em árvores e no cimento fresco, entre outras intervenções no espaço público.
Tolerância e risco
A arte do grafite tem desfrutado de mais tolerância por parte do poder público, mas Maria Luiza Viana afirma que o desejável seria maior aceitação, assim como tem acontecido por parte do meio artístico tradicional. Os grafiteiros têm sido convidados para expor seus trabalhos com base em propostas de interação com outras artes, como a poesia. Mais do que isso, muitos artistas têm migrado para galerias e museus. A pesquisadora enxerga nessa institucionalização um benefício, que é o fato de os artistas incorporarem outros discursos e se aproximarem dos outros campos da arte. Mas ela faz um alerta: “A apropriação do grafite por programas de governo, universidade e setores da mídia é perigosa porque passa a impor uma estética e a transformação dessa arte em marca da juventude, por exemplo”, diz Maria Luiza, acrescentando que o movimento tende a perder quando é institucionalizado. “O que o mantém vivo e compõe sua essência é a força da insubordinação. Se for domesticado, o grafite vai virar outra coisa.”
Ela acredita, no entanto, que os artistas estão conscientes disso: eles levam seus trabalhos para a galeria, mas não deixam de criar para a rua. Maria Luiza Viana considera que o movimento do grafite no Brasil foi o que mais evoluiu, deixando para trás o “discurso de Nova York” e carregando para a sua prática o aprendizado gerado por cruzamentos com outros universos.
Renovação de espírito
No Rio de Janeiro, artistas visuais urbanos se reúnem ocasionalmente para invadir uma comunidade e grafitar todos os muros cedidos pelos moradores. “Você pode imaginar centenas de pessoas colorindo as paredes de comunidades marcadas pelo cinza do cimento e pelo vermelho dos tijolos, e sem remuneração? É uma cena no mínimo bem bonita”, descreve o rapper, historiador e documentarista João Xavi. Nascido em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, onde vive até hoje, Xavi é militante e entusiasta da ocupação urbana.
Sobre o Mutirão de Grafitti, ele diz que é um gesto de doação e “renovação de espírito”. A situação é difícil para os artistas urbanos, a maioria de baixa renda. O retorno é quase apenas ideológico ou filosófico. Xavi conta que constatou na Europa o apoio do Estado à atividade cultural voltada para a juventude. No Brasil, por outro lado, segundo ele, o Estado oferece políticas de repressão. “A polícia ainda não entende que o hip-hop é uma manifestação que não tem nada a ver com organizações criminosas. A luta é contra o estigma de criminalização da pobreza. Pobres organizados, mesmo que seja para dançar e cantar contra a violência, geram desconfiança.” Ele acha que é preciso muito diálogo para renovar as possibilidades do uso do espaço público visando a uma ocupação ao mesmo tempo “mais racional e criativa das brechas que ainda existem nas cidades”.
Exemplo de manifestação organizada e pacífica da cultura hip-hop em Belo Horizonte é o Duelo de MCs, que há cerca de dois anos reúne entre 300 e 400 jovens nas noites de sexta-feira sob o Viaduto de Santa Teresa, na Zona Leste. Diferentemente do que sugere seu nome, o evento exibe também a arte de dançarinos, DJs e grafiteiros. Organizada pelo grupo Família de Rua, a iniciativa já conta com iluminação e banheiros químicos, mas ainda reivindica policiamento preventivo.
Para Tiago Antonio, o Monge, integrante do grupo organizador e mestre de cerimônias do Duelo, esse encontro é uma prova de que jovens podem intervir na cidade sem violência. “Nossos objetivos são a convivência e a troca de informações. Fazemos porque gostamos e para aprimorar nossas artes”, ele explica. Monge, que teve de interromper o curso de Ciências Sociais e trabalha com educação de jovens por meio de oficinas de hip-hop, conta que o Duelo de MCs gera entre os participantes conscientização da necessidade de o jovem “ocupar e preservar o espaço urbano”.
Natural como o pagode
Para o fluminense João Xavi, a rua (“como a gente chama no rap”) é a inspiração e o espaço onde determinado tipo de arte acontece de forma mais plena. A rua como palco, ele diz, encontra um público mais livre de preconceitos que são geralmente ligados aos grupos de cada arte. Mas ele faz uma ressalva: ainda se percebe um estranhamento. Participante experiente de shows e outros eventos em espaços populares, Xavi relata que o hip-hop, por exemplo, não tem inserção natural nas comunidades. “É uma cultura feita pelo povo, mas que não é amplamente consumida pelo povo. Quando acontecem esses eventos, fica no ar a sensação de que é uma coisa estranha à rotina das pessoas.”
O rapper espera ansioso pelo dia em que o hip-hop chegue às comunidades do mesmo jeito que o pagode, e o cinema entre na vida das pessoas como a novela. Sem soar, como ele define, como “projeto cultural” ou “projeto social”. “Temos que achar um caminho entre o que oferecemos e a demanda das pessoas”, ele declara.
Para Xavi, a arte pode ser muito vazia, individualista, elitista. Mas quando aplicada no pensamento coletivo, ela cumpre papel fundamental. “Os bailes funk geram notícias de violência, mas também novos casais, famílias e projetos. Eles têm um grande potencial de promover o encontro, assim como as quermesses de igreja e as festas de umbanda”, compara. João Xavi está convicto de que os artistas que ocupam as ruas buscam reinventar o cotidiano, “abrir uma janela no dia a dia do espaço público e investir em situações diferentes, para além da rotina de trabalho seguida de trabalho que nos oferecem”.
Autor de trabalho de final de curso de História sobre diálogos possíveis entre a Tropicália e o hip-hop, João Xavi anda fascinado também com a perspectiva de se usar a arte como instrumento de educação. Ele se anima com a possibilidade do que chama de “retrocesso positivo”, uma volta ao tempo em que a autoria não era tão importante, mas sim o papel da arte como campo de convivência, de reforço da identidade. “Gostaria de ver esse tipo de experiência florescer no espaço urbano, e acho que a tecnologia está contribuindo para isso. Alguns dos jovens que perdem horas diante do computador estão organizando suas ações no mundo real. Vejo um futuro promissor nesse sentido; a arte e a tecnologia agregando cada vez mais gente”, ele imagina.
Sobre as interseções envolvendo arte, cidade e educação, Maria Luiza Viana lança mão do conceito de “cidade educadora” e relata parte de seu trabalho como professora de arte da Prefeitura de Belo Horizonte, que promove extensão de jornada em suas escolas. Crianças a partir dos seis anos participam de oficinas de arte pública, como a pintura urbana, e percorrem clubes, associações e igrejas. “Elas aprendem nesse percurso. Constroem, pintam, sugerem, ou seja, responsabilizam-se pela cidade. Isso cria a ideia de pertencimento, o que sem dúvida ajuda a garantir uma cidade melhor no futuro”, ela justifica. Os monitores são selecionados a partir de convênios com a Escola de Belas-Artes da UFMG e o curso de Design da UEMG, entre outras instituições.
Arquitetura e cenografia
Se as crianças começam a compreender a cidade e a se apropriar dela, o pessoal do teatro já domina a cena urbana. Cada um a seu modo. Amir Haddad, com o grupo Tá na Rua, criado em 1980, e o Galpão, que completou 25 anos de carreira, consagraram uma forma de representação que tira partido do contato mais direto com o público e do ambiente cotidiano para realizar o jogo do teatro.
O espaço urbano não é neutro, garante o arquiteto e urbanista Cristiano Cezarino Rodrigues, que estuda as relações entre o ambiente da cidade e o espaço cênico para entender como podem surgir proposições diferenciadas de arquitetura teatral e cenografia. Esse foi o tema de seu mestrado na Escola de Arquitetura da UFMG, e ele já amplia as investigações na direção do desenvolvimento de arquiteturas baseadas em dispositivos de elaboração de ambientes digitais que possibilitem a criação de lugares cênicos. “A carga semântica do espaço na cidade escolhido para um evento deve ser considerada, porque ele é mais que mera decoração, é assumido como elemento ativo do jogo”, explica Cezarino, que trabalha com cenografia e design de eventos.
No teatro urbano contemporâneo, o artista, segundo ele, procura estabelecer uma tensão entre o sentido habitual de um determinado espaço e um sentido poético extraído daquele mesmo ambiente. “Essa tensão acaba resultando em outro habitat”, diz Cezarino, acrescentando que não é possível desvincular o espaço real do cênico na experiência do evento. “As operações semânticas tendem a ser acumulativas e não eliminatórias.”
Para Cristiano Cezarino, a reaproximação da arte com a cidade coincide, em geral, com a ascensão de novos questionamentos sobre a própria arte e sobre o mundo e a vida das pessoas. E ele acredita que a relação entre arte e espaço urbano apresenta formas peculiares em cidades diferentes, já que elas têm suas próprias características, às vezes sutis. Sobretudo quando se pensa em propostas intrinsecamente vinculadas ao espaço urbano, como a modalidade de teatro que ele analisou em sua pesquisa de mestrado. “Um grupo com características tão singulares como o Teatro da Vertigem, que acompanhei em meus estudos, tem identidade muito forte com São Paulo”, exemplifica.
Visibilidade social
Os artistas que ocupam as ruas são quase sempre jovens, como os skatistas da rua Rio de Janeiro (no quarteirão fechado próximo à Praça Sete) e os dançarinos de break que nos anos 80 se reuniam no Edifício Sulamérica, aos domingos. Mas a pesquisadora Rita Aparecida da Conceição Ribeiro encontrou um grupo de cinquentões no trecho conhecido por Quarteirão do Soul, na rua Goitacazes, também no Centro de Belo Horizonte. Tema de sua tese de doutoramento, defendida no Instituto de Geociências da UFMG em 2008, os dançarinos veteranos são exemplo do conceito – criado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells – de identidades de resistência, que se fundam na contramão das identidades hegemônicas. Segundo Rita Ribeiro, os blacks que se conheceram nos anos 70 seguem padrão contrário à ordem vigente, têm seus próprios ritos e se apoderaram do espaço urbano sem consultar qualquer instância de poder.
No tempo em que frequentou o local, a pesquisadora pôde observar as reações mais diversas. Viu de transeuntes surpresos e encantados pelas coreografias a olhares de censura. Nos primeiros dias, o grupo foi vítima de denúncias infundadas para a polícia. “Hoje a cidade parece incorporar com tranquilidade o movimento, e mesmo os jovens têm se aproximado, o que é muito bom, porque o movimento soul, que parecia fadado à extinção, começa a se renovar”, ela comemora. Outra boa notícia trazida pelo fenômeno da rua Goitacazes, na visão de Rita Ribeiro, é que ele aumenta as chances de preservação da cidade. “Quanto mais se apropriarem do espaço urbano, mais as pessoas se sentirão integradas a ele”, ela reforça.
Rita desenvolveu sua pesquisa influenciada por nomes como o geógrafo Milton Santos, “para quem os pobres da cidade são aqueles que fazem o urbano vibrar”, do filósofo francês Henri Lefèbvre, que pensou o urbano como um processo social, e do antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, que discute a invisibilidade social. “A resistência parte de um ponto de tensão”, explica Rita Ribeiro. “E os frequentadores do quarteirão são operários, donas de casa, trabalhadores do mercado informal que naquele espaço saem de sua invisibilidade para assumir outros papéis, com apelidos black.”
Para Luiz Eduardo Soares, se a invisibilidade é uma experiência e um produto político relevantes para um conjunto de indivíduos e grupos sociais “imprecisamente chamados vulneráveis”, serão também importantes, como respostas populares, manifestações artísticas ou estéticas, além de modalidades de integração em coletividades dotadas de identidades e pertencimento.
Vetores
Pós-doutor por duas universidades americanas (Pittsburgh e Virginia), Soares baseia sua reflexão sobre a cultura urbana pública brasileira na identificação de alguns vetores fundamentais. Ele destaca, dentre eles, o crescimento acelerado de igrejas evangélicas e de seus valores; a expansão de linguagens e sensibilidades relativamente novas nos meios jovens periféricos (de modo geral, a cultura hip-hop); a resistência, em ambiente hostil, das tradições religiosas afro-brasileiras; o desenvolvimento de uma visão de mundo cética quanto à política institucional e descrente da Justiça; e o fortalecimento de consciência crítica sobre o racismo, a homofobia e a desigualdade entre os gêneros. Nesses universos, despontam elementos como as tendências gospel, o rap, o grafite e as tradições musicais e iconográficas afro.
Para Luiz Eduardo Soares, que tem ocupado cargos de governo na área de segurança pública – hoje é secretário em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense –, esses universos terão contribuição importante – “e por vezes contraditória” – para a construção de uma cultura de paz e solidariedade, mobilização e participação cidadã. “Mas a direção dessa contribuição dependerá da capacidade dos vários universos de se aliarem aos segmentos mais democráticos do meio evangélico”, ele diz. “Além disso, a linguagem dessa cultura de paz passará, provavelmente, pela arte, em suas diversas formas.”
 Thais Mesquita
Thais Mesquita
Caminhando sobre ruínas
Autor de A construção e a destruição do conhecimento (Editora UFRJ, 2009), o professor Ronaldo Lima Lins participa dessa discussão de maneira peculiar. Sua abordagem trata a cidade como conhecimento que o homem constrói e destrói ao longo do tempo e de acordo com os modos de vida. Segundo ele, as cidades, como criações da humanidade, possuem características, fisionomia, cor, estilo, temperamento. “Há épocas nas quais as pessoas afinam o gosto, entendem a importância da preservação e das conquistas do passado. Em outros momentos, ao contrário, a sede pela sobrevivência ou a ganância agem no sentido oposto: uma criatividade monstruosa expõe o lado mais sombrio de nosso caráter”, diz Ronaldo Lins, que é professor de Teoria da Literatura e atual diretor da Faculdade de Letras da UFRJ.
Ao afirmar que o capitalismo é avassalador na caça ao lucro e não hesita em destruir, ainda que “ferindo mortalmente” a sensibilidade de alguém ou de um tempo, Ronaldo Lins lembra Walter Benjamin para completar que “caminhamos sobre ruínas”. Segundo Lins, poucas cidades podem ostentar um perfil coerente, em que coexistem o velho e o novo. E o que ele chama de mentalidade da destruição e do mau gosto contaminou as pessoas a tal ponto que administradores têm dificuldade de enfeitar ruas e praças e humanizar a convivência em meio aos arranha-céus. “Isso não quer dizer que os artistas desapareceram”, ressalva Ronaldo Lins. “Eles apenas se sentem acuados, como se falassem para um número cada vez menor de pessoas.”
O pensamento que Ronaldo Lima Lins expõe em sua obra mais recente – são 11 livros publicados, entre romances e ensaios – inclui a arquitetura, que, segundo ele, não foge às pressões do sistema. Talvez mais que as outras modalidades de arte, ela se ressente das injunções do tempo. O desenvolvimento do concreto e o uso do ferro levaram à massificação, que privilegia a simplicidade e a redução de custos, em vez do enfeite e da sofisticação. “Os homens caminham de um lado para o outro esmagados pelas fachadas, mesmo sem se dar conta disso”, diz Ronaldo Lins. E ele levanta a pergunta: “Que lugar desfruta a beleza em um cenário como esse?” Para o autor, não se deve desejar uma volta ao passado, mas é preciso atenção porque as pessoas passaram a exigir pouco ou quase nada de sua imaginação. “E épocas sem imaginação são pernósticas, perigosas, porque ameaçam a esperança. O que nos tranquiliza é que, mesmo na catástrofe, os homens encontram meios de sobreviver, amar, trabalhar e criar”, diz Ronaldo Lima Lins.
 Bárbara Mol
Bárbara Mol
Entrevista
“Cada cidade tem sua gramática”
Professora da Escola de Comunicação e coordenadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, Heloisa Buarque de Holanda tem se dedicado à pesquisa sobre a literatura de periferia, que publica sob o selo Tramas Urbanas da editora Aeroplano, que dirige. Nesta entrevista, ela fala da relação entre arte e cidades e das características e pretensões da literatura que emerge no espaço urbano.
Como a senhora vê o movimento recente de ocupação das cidades por artistas e manifestações culturais?
Esse movimento me parece, na realidade, uma intensificação da cultura e da arte pública que vem desde a segunda metade do século 20. Com o simultâneo desenvolvimento de uma ressignificação urbanística que sublinha o uso da cidade como espaço cultural e de memória, a ocupação urbana expande-se em diversas estratégias políticas e artísticas de ações majoritariamente coletivas.
Quais são as diferenças entre cidades?
Acho que cada cidade tem sua gramática e, por exemplo, a atual emergência da cultura da periferia reage com clareza a essa gramática. Por exemplo, no Rio, onde as comunidades “periféricas” ou de baixa renda estão no interior do território considerado “centro”, emergem expressões culturais mais articuladoras, que geram basicamente conexões entre mídias, linguagens, espaços, culturas e comunidades diferentes. Já em São Paulo, a resistência territorial é fundamental. A cultura produz e se volta nitidamente para as próprias comunidades e territórios geográficos e sociais. Portanto, cultura e território, cultura e cidade estão visceralmente relacionados neste momento.
Como a chamada literatura da periferia ocupa o espaço urbano?
De todas as formas possíveis. Ela traz novas marcas hiperurbanas para a literatura e desenvolve-se em ações e políticas de ocupação de fato e de direito. Basta conferir a importância atual dos saraus literários nas periferias, das novas dinâmicas das bibliotecas comunitárias, dos agentes de leitura e dos núcleos de publicação, além dos eventos públicos cujo centro é a palavra e dos projetos educativos a partir da competência da palavra como instrumento de expressão, sobrevivência e empoderamento social e econômico. Essas ações, especialmente em São Paulo, se multiplicam e são cada vez mais eloquentes.
Como essa literatura reflete a cidade e que influência ela exerce (ou pretende exercer) sobre a cidade?
Ela reflete a cidade “oculta”, “excluída” e as desigualdades sociais reproduzidas no próprio desenho do espaço urbano. A influência que pretende exercer é seu projeto político: a transformação desses territórios.
Que características marcam esses textos quanto a estilo, temáticas e outros aspectos?
São sua linguagem rouca, sua assumidamente voz própria, sem submissão a levadas ou lógicas externas como uma forma nova de identificação entre território e subjetividades/identidades coletivas. Isso faz com que em muitos textos o principal personagem/narrador seja o próprio local, distinto da antiga ideia de literatura que expressa de forma mais genérica a representação do regional. Agora, o local é, na definição dos próprios autores da periferia, apenas um CEP. Ou seja, a identificação de um topos circunscrito a apenas algumas quadras do entorno de sua moradia e de sua experiência social. É este o local que se faz personagem eloquente na nova literatura marginal.
Revista Diversa nº 17
Site produzido pelo Núcleo Web do Centro de Comunicação da UFMG