Populações
Direito de quem?
Ana Maria Vieira
Cidades estão diante de desafio proporcional ao tamanho de suas populações: oferecer condições dignas de vida a pobres, gays, índios e tantos outros grupos
A centralidade do lugar do indivíduo na agenda de políticas públicas ressurgiu, de modo aparentemente inesperado, nas ruas londrinas, em março deste ano. “Put people first”, repetiam milhares de britânicos durante protesto dirigido à cúpula do G20, reunida para tratar da crise financeira mundial. A força do slogan, capaz de reinserir um velho personagem na discussão pública de um tema de ordem global, residia em questão óbvia: desastres econômicos afetam pessoas. Planos devem ser feitos para pessoas. Ademais, “as pessoas em primeiro lugar” soava inovador por seu apelo direto, elegendo a dimensão individual em detrimento de categorias sociais, um lugar-comum entre os movimentos civis organizados e em discursos políticos. Um quase ensinamento, por outro lado, do quanto os poderes se distanciaram daquilo que de fato os fundamenta: as pessoas.
Mas é em escala que os cidadãos ainda se fazem representar nos planos governamentais. E toda sua diversidade se uniformiza nessa estratégia. Afinal, reconhecer a esfera individual implicaria, até moralmente, carrear todo e qualquer recurso para atender suas necessidades. A envergadura de tais demandas poderia ser demonstrada pelos velhos e frios números: segundo dados divulgados pela ONU, pelo menos 1 bilhão de pessoas vivem em assentamentos precários – favelas e regiões de risco –, dos quais 90% estão em países em desenvolvimento. A perspectiva não é otimista: em 2020, o número desses moradores poderá atingir 1,5 bilhão, se nada for feito.
Um lar na cidade
A exorbitância dos recursos para gerenciar a situação de risco em tais assentamentos também foi estimada pela agência. No relatório “Um lar na cidade”, divulgado em 2005, o valor anual então necessário para melhorar as condições de vida de 100 milhões de habitantes dessas áreas, somados a outros 570 milhões prestes a favelizar-se, girava em torno de 18 bilhões de dólares. Os investimentos, no caso, se destinariam a intervenções na qualidade da moradia e de transportes e no fornecimento de saneamento básico e de serviços de saúde e educação.
O déficit na oferta desses direitos assombra gestores e sociedades também quando índices demográficos adicionais se apresentam, clareando tendências sobre o crescimento das populações urbanas de todo o mundo. Nessa linha, vê-se que 2008 trouxe como marco a superação das áreas rurais como aquelas preferidas pelas pessoas para construir sua moradia: pela primeira vez, a maioria delas, 3,3 bilhões, passou a viver em cidades. Projeção do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos (UN-Habitat) indica que, em 2030, os citadinos serão dois terços da população mundial.
O desafio adicional não é apenas numérico. Como relata o estudo do UN-Habitat, deverá ocorrer ainda significativo aumento da população urbana em países de economia em desenvolvimento, como os da América Latina e do Caribe. Nessas regiões, projeta-se para 2025 índice de habitantes em cidades em torno de 83%, frente aos atuais 78%. A Europa assistirá a crescimento relativo menor. Enquanto hoje 72% dos europeus encontram-se urbanizados, em 2025 eles serão 76%. A América do Norte, por sua vez, dará grande salto no processo de urbanização no mesmo ano: a população que vive em cidades aumentará de 81% para 90%. Os continentes menos urbanizados ainda são Ásia (40%) e África (38%).
O fato de percentualmente os latinos estarem emparelhados com a população urbana dos países de economia avançada resulta, segundo o documento da ONU, de um particular fenômeno migratório vivenciado por eles, no século 20. Para demógrafos, esse processo marcou profundamente a conformação contemporânea das cidades brasileiras e transformou estruturalmente a sociedade num momento em que as taxas de fecundidade começavam a cair.
O caso brasileiro
Como observa Fausto Brito, professor da Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG, as migrações internas brasileiras, sobretudo do campo para a cidade, ou mesmo dos pequenos municípios para as cidades maiores, ocorreram em grande proporção e de modo extremamente acelerado e concentrado, do ponto de vista espacial, para a Região Sudeste, especialmente em direção a São Paulo – reflexo do crescimento industrial, econômico e social desigual entre as regiões. Entre 1960 e 1990, por exemplo, o êxodo rural foi estimado em 42,6 milhões de pessoas. Isso possibilitou que a urbanização e a constituição das metrópoles no país fossem simultâneas – nos anos 70, metade da população urbana já residia nas grandes cidades.
“Apenas na segunda metade do século 20, a população urbana passou de 19 milhões para 138 milhões, multiplicando-se 7,3 vezes, com uma taxa média anual de crescimento de 4,1%”, relata Brito em artigo sobre o fenômeno do deslocamento dos brasileiros para as metrópoles, publicado em 2006 na revista Estudos Avançados. Ele pontua, no entanto, que o processo não foi estritamente demográfico. “As cidades, além de concentrarem parcela crescente da população do país, converte[ra]m-se no lócus privilegiado das atividades econômicas mais relevantes e transforma[ram]-se em difusoras dos novos padrões de relações sociais – incluindo as de produção – e de estilos de vida”, escreve.
Os indicadores mais atuais, no entanto, indicam mudanças na rota de destino dos migrantes do século 21: eles estão regressando a seus estados de origem. Nordestinos e mineiros, por exemplo, que saíram de seus estados recentemente – há pelo menos cinco anos – estão voltando para casa. O que faz com que, pela primeira vez, o estado de São Paulo comece a perder habitantes. Além disso, o aumento da população nas cidades deixou de ser creditado à migração: de acordo com o relatório “Situação da população mundial 2007”, produzido pelo UN-Habitat, a maior parte desse crescimento resultará do aumento vegetativo da população, principalmente pobres.
 Sulamita Cruz
Sulamita Cruz
Migrações
Apesar de sua redução, as migrações são um importante fenômeno social.“Não se trata de nenhum exagero afirmar que migrar faz parte da cultura brasileira, está incluído, como possibilidade, no projeto de vida de cada cidadão”, escrevem Brito e José Alberto Magno de Carvalho, atual diretor da Face, na edição de 2006 da revista Parcerias Estratégicas.
Se o destino dessas populações é, em geral, as cidades, nem sempre elas as recebem de boa vontade. Como observa o relatório de 2007 do UN-Habitat, geralmente os gestores públicos se recusam a aceitar o crescimento urbano, desencorajando a migração. “Suas políticas são insuficientes, pois reduzem a oferta de habitação e serviços básicos para os pobres e, consequentemente, promovem o crescimento das favelas”, registra o documento, ao analisar o resultado da estratégia dos administradores em colocar esses segmentos da população na invisibilidade. No Brasil, a oferta de passagens rodoviárias para o retorno de migrantes e trabalhadores temporários a seus locais de origem ilustra a ausência de política em relação à migração.
Para a agência da ONU, o ideal seria os gestores reconhecerem o direito à cidade das populações mais pobres. É nos espaços urbanos que elas buscam sua emancipação e maiores oportunidades de acesso à educação, ao trabalho e à cultura. “Os migrantes urbanos estão tomando decisões racionais. Eles precisam de apoio para sair da pobreza e, nesse processo, contribuir para o crescimento econômico”, assinala o UN-Habitat.
Avaliação presente no estudo, porém, constata que pouco está sendo feito para aproveitar os benefícios desse crescimento urbano ou para “reduzir suas consequências negativas”. Tendo por pressuposto que a expansão das cidades terá papel decisivo sobre o desenvolvimento no século 21, o UN-Habitat deixa um alerta aos gestores: “as mudanças serão grandes demais e acontecerão de forma acelerada demais para permitir que os governos e os planejadores simplesmente reajam”.
Segregação
Mas a decisão de se antecipar aos problemas ambientais, de renda, moradia, educação e saúde que se avizinham às cidades do futuro requer esforços consideráveis, além da disponibilidade política e financeira. O fenômeno da segregação impôs desafios adicionais para a gestão das metrópoles: desenvolver políticas urbanas tornou-se complexo até em termos de mentalidade – os pobres e ricos erguem muros visíveis e invisíveis em torno de favelas e condomínios de luxo, reduzindo possibilidades de uma convivência plural.
“É tão rigorosa a rigidez dessa situação nas grandes cidades que até mesmo lazer, trabalho e moradia das populações ocorrem em cidades diferentes da região metropolitana”, exemplifica Brito, refletindo, na sequência, ser necessário restaurar a cidade. “Este é o desafio: remontar o espaço público. Aliás, tarefa complicada, pois já existe uma cultura urbana na qual a segmentação está posta”, aponta.
Para o economista Haroldo da Gama Torres, do Centro de Estudos da Metrópole, ainda que a segregação residencial seja tomada como fato incontestável nos campos da Sociologia e do Urbanismo, ela praticamente não tem sido aferida empiricamente no Brasil. Aqui, “o debate sempre se focou nos aspectos habitacionais e socioeconômicos mais gerais”, registra em artigo sobre o tema publicado em 2004 pela Revista Brasileira de Ciências Sociais.
Ainda que pareça óbvio, Torres chama a atenção para o fato de a segregação ser um fenômeno relacional. “As medidas de segregação vão se basear buscando medir o grau de isolamento de um determinado grupo social em relação a outro”, explica. A partir dessa metodologia, ele identifica pelo menos seis evidências relativas à contribuição da segregação espacial para o aumento e reprodução indefinida da pobreza – déficits sociais em áreas como emprego, educação, habitação, saúde, transporte, geração de renda e segurança pública.
Como registra Torres, essas evidências são extraídas dos custos de moradia desproporcionais, relativamente à renda; da má qualidade residencial, envolvendo riscos ambientais e para a saúde dos moradores; da distância entre habitação e emprego; da situação irregular em que se encontram as residências; da menor probabilidade de a moradia contribuir para geração de renda e do efeito da vizinhança na produção de oportunidades na vida dos habitantes.
“Na medida em que a rede de relações sociais de um indivíduo ou família contribui para seu acesso a empregos e serviços públicos, o isolamento social presente nas áreas segregadas tende a contribuir significativamente para a redução das oportunidades”, diz o economista. Uma inovação de sua análise reside exatamente na especificação do grau de isolamento residencial na cidade de São Paulo e suas repercussões na deterioração das relações sociais.
De acordo com Haroldo Torres, São Paulo passou, nos anos 1990, por uma peculiar mudança social. “De um lado, observamos redução da pobreza e da proporção de chefes de família com baixíssima escolaridade. De outro, constatamos um aumento substancial da segregação residencial, quando observada por parâmetro de renda”, registra. Para explicá-la, ele sugere a ocorrência de três fenômenos: incremento no padrão de autoisolamento dos grupos de renda mais elevada, segregação da população favelada e continuidade do processo de periferização, em que pese a intervenção estatal nessas regiões, oferecendo maior acesso à educação e ao saneamento básico.
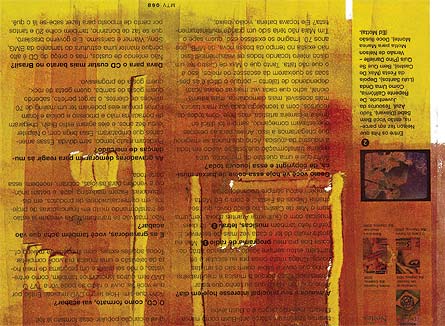 Felipe Abranches
Felipe Abranches
Muros altos e janelas vedadas
A segregação social compõe capítulo especial na história dos povos. Enquanto a Demografia contribui para seu conhecimento analisando a dinâmica das aglomerações de grupos sociais e étnicos em um determinado espaço, a Sociologia abre o debate sobre sua natureza. Gays, prostitutas, moradores de rua, migrantes, negros e índios: qual cidade ocupam afora seus próprios “guetos”? Territórios existenciais ou físicos, sua constituição seria perpassada também pela noção de voluntariedade na adesão dos grupos que os habitam, conforme advogam alguns autores.
Contra essa linha coloca-se o sociólogo francês Loic Wacquant, professor da Universidade da Califórnia e pesquisador do Centre de Sociologie Européenne da Maison des Sciences de l’Homme. Em artigo publicado sobre o tema, ele pergunta o que é gueto, inserindo argumentos que já haviam se tornado referência em sua obra. Diz Waquant que esses espaços são espécie de instrumento de controle etnorracial e de cercamento, identificados pela presença de quatro elementos: estigma, limite, confinamento espacial e encapsulamento institucional.
Com base nesse conceito, nenhuma experiência contemporânea de exclusão poderia ser enquadrada como gueto, exceto as situações-limite de perda da liberdade. Grupos estigmatizados formados por portadores de doenças contagiosas, prostitutas e gays – para citar algumas vítimas de preconceito sistemático – tampouco guardariam, em sua maneira de usar o espaço social, semelhanças com a experiência histórica dos guetos repassada por Wacquant em seu artigo, publicado na Revista de Sociologia e Política, em 2004.
É preciso distinguir, diz o autor, guetização de pobreza urbana, segregação e aglomerações étnicas. O gueto tampouco é, assinala o sociólogo, “uma ‘área natural’, produto da ‘história da migração’, mas sim forma especial de violência coletiva concretizada no espaço urbano”. Lembra Wacquant que gueto advém do termo italiano giudeca, borghetto ou gietto, referindo-se originalmente à reunião forçada de judeus em locais designados pelas autoridades medievais, em troca, também, de tributos especiais. Em 1516, a prática se acentuaria a partir da ordem do Senado veneziano, determinando aos judeus seu recolhimento no ghetto novo, “uma fundição abandonada em uma ilha isolada, cercada por dois muros altos cujas janelas exteriores eram vedadas”, escreve o autor. Estavam autorizados a sair apenas durante o dia para trabalhar, mas desde que usassem um distintivo. A experiência acabou por se difundir pela Europa.
Identidade
Para Wacquant, essa modalidade de núcleo produziu dinâmicas internas específicas. Marcados pela exclusão social, tais espaços passaram a abrigar número crescente de pessoas, acarretando a precarização de suas moradias, o aumento da mortalidade e o empobrecimento de seus habitantes. Mas a experiência do gueto também reforçou laços de identidade dos grupos. Como identificou o sociólogo, a “exclusão cívica e ocupacional” tanto levou os segregados à consolidação de sua cultura como promoveu o desenvolvimento de organizações empresariais e outras de cunho assistencial.
O autor observa processo semelhante na formação dos guetos negros norte-americanos. Especialmente após a I Guerra Mundial, com a crescente demanda das indústrias por mão-de-obra, levas contínuas de migrantes negros oriundos do Sul do país chegavam às grandes cidades. É nesse momento, diz Wacquant, que a hostilidade branca aumenta “e os padrões de discriminação e segregação, que até então eram inconvenientes e limitavam-se à esfera informal, não só se tornaram mais rígidos na moradia, escola e acomodações públicas, como também se estenderam à economia e à política”. Surge, assim, à revelia da vontade desse grupo, uma cidade paralela dentro da metrópole branca, isolada por cercas dos costumes e da violência. Mas é também nesses espaços que surgem a consciência racial e a noção de “identidade imaculada” entre a população negra, sementes dos movimentos étnicos norte-americanos.
No Brasil, experiência peculiar nessa linha pode ser visualizada em comunidades quilombolas, constituídas ao longo dos séculos em áreas rurais ou próximas a cidades. Nos centros urbanos, o “encapsulamento” desses territórios ocorreu progressivamente, especialmente nos séculos 19 e 20, com o crescimento das cidades. Segundo dados da Federação Estadual das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, há cerca de 400 quilombos no estado – três deles em Belo Horizonte.
O orgulho em preservar a história de resistência é um dos vínculos identitários mais marcantes dessas comunidades com o espaço de sua constituição. Permanecer nesses territórios significa, muitas vezes, reafirmar a história de busca pela liberdade, que se transformou em herança-símbolo da população negra brasileira, empenhada em recompor a memória social para além da imagem de jugo e passividade. Entende-se, portanto, a razão de o reconhecimento legal desses enclaves ter tomado dimensão que escapa aos limites da burocracia. Mas o reconhecimento pelo Estado encontra complicador extra: a valorização dos terrenos onde se localizam é objeto constante de disputa com o chamado capital imobiliário.
Estigmas
Diferentemente dessas experiências, os atuais processos de segregação, ainda que motivados por renda, etnia ou preconceito, não produzem guetos, avalia Loic Wacquant. De acordo com ele, bairros étnicos formados por migrantes nas regiões urbanas resultam mais da afinidade cultural do que de hostilidades externas. A definição de guetos, propõe o autor, se aplica menos à favela, aos enclaves ou condomínios e mais a cadeias e campos de refugiados.
Mas a associação do termo a grupos pobres não é aleatória. Origina-se, inclusive, de debates acadêmicos ocorridos na década de 1990, informa o professor. À época, seu sentido teria sofrido espécie de neutralização, que, “orientada ao planejamento de políticas públicas culminou com o expurgo de qualquer traço de raça e poder”, afirma. Simultaneamente, o processo atingiu seu ápice “em cidades de sociedades avançadas, em resposta ao estigma e à libertação gay”.
A ideia de gueto gay no Brasil também parece encontrar resistência na própria comunidade homossexual. Para muitos, ela é considerada pejorativa, como identificou Cristina Monteiro de Queiroz, em dissertação de mestrado defendida em 2008 pela UnB – “Estigmas, guetos e gentrificação: a segregação homossexual em Brasília”.
Ao rastrear os sentidos atribuídos ao termo gueto entre os integrantes do segmento, a autora também identifica o esvaziamento referido por Loic Wacquant. Gueto, para essa comunidade, pode significar periferia, lugar escondido, discriminação, tribos urbanas, minorias que frequentam um lugar específico, espaços que rotulam pessoas, favela habitada por negros e local segregado, mas de proteção a um grupo.
Motivados academicamente em conhecer a vida social de jovens gays e o uso que fazem do espaço urbano nas noites belo-horizontinas, dois formandos do curso de jornalismo na UFMG concluíram, em dezembro de 2008, pesquisa sob a forma de livro-reportagem, sugestivamente denominado Cidade dos outros – espaços e tribos LGBT em Belo Horizonte. O relato inclui reminiscências de um intelectual sobre a constituição dos lugares de diversão na capital mineira, especialmente após os anos 50, reportando simultaneamente a visão da sociedade sobre o espaço que cabia a esses segmentos. Para driblar o preconceito, muitos gays se mudavam para o Rio de Janeiro. Aos poucos, Belo Horizonte foi se abrindo para diversos grupos homossexuais. Um fenômeno comum constatado na pesquisa pelos autores, Vinícius Luiz e Maria Tereza Novo Dias, foi a recusa dessas pessoas de se identificarem com tribos únicas. Preferiam provavelmente convergir para uma categoria de pertença mais ampla e, portanto, menos estigmatizante.
“Encontramos barbies, poc-pocs, finas, indies, colocadas, modernos e emos num emaranhado de relações que envolvem gostos musicais, estilos de se vestir, boates preferidas, entre outras características. Foi determinante para a nossa investigação perceber que as tribos só existem a partir do olhar do outro. Assim, a cidade dos outros é a que se divide em tribos, porém, a experiência pessoal de cada indivíduo relativiza essa divisão”, escrevem.
A demarcação de um território para diversão não expressa, evidentemente, toda a experiência desses grupos com o uso diferenciado do espaço urbano. Associados a yuppies, intelectuais e artistas identificados com o modo urbano de vida, os gays protagonizaram, nos anos 80, um processo singular nas metrópoles norte-americanas: a gentrificação de áreas centrais urbanas degradadas, conforme relata Cristina Monteiro de Queiroz em sua dissertação. Fenômeno importante também para o mercado imobiliário e a gestão pública, a gentrificação desloca espacialmente populações, colocando outros segmentos menos estigmatizados no mesmo local. Estratégia urbana em voga em qualquer continente, o procedimento acompanha iniciativas de revitalização de espaços na metrópole.
 Felipe Abranches
Felipe Abranches
Em BH, uma gentrificação às avessas
Belo Horizonte, a exemplo de outras cidades, experimentou um processo de gentrificação cultural em área central, a Praça da Estação. Ele, contudo, parece ainda não ter empolgado a população – no sentido de ocupar plenamente o espaço e usufruir das reformas empreendidas. Aspecto relatado por Cristina Monteiro de Queiroz talvez explique o fato: “nas cidades norte-americanas os indivíduos têm mostrado um papel mais ativo, enquanto que nas cidades europeias e latino-americanas a intervenção do setor público tem sido constante”. Se a ação parece não produzir impactos expressivos na reacomodação das populações nas cidades latino-americanas – mesmo porque seu perfil socioeconômico é diverso –, outro aspecto observado em Belo Horizonte parece abrir opções de gentrificação às avessas em seu hipercentro: com baixa densidade de moradores, edifícios desocupados podem servir de teto às classes mais populares (leia mais na matéria “Centro revalorizado”, na página 43).
Além dessa vertente, a resistência de parcelas da população em abraçar locais restaurados no Centro da capital encontra outro elemento: é nessa região que se concentra a oferta de benefícios – albergues, restaurante popular, emissão de documentos – a segmentos mais desfavorecidos, como catadores de lixo, trecheiros, trabalhadores temporários, mendigos, enfim, a população moradora de rua. Os serviços acabam por colocar a região no roteiro permanente desse grupo.
Belo Horizonte ainda é uma das poucas cidades do país que possuem equipamentos públicos e política destinados a moradores de rua que não se limitam a oferecer passagens viárias ou jogar água em calçadas, para evitar sua ocupação por eles. Em 1998, chegou a realizar a contagem dessa população, a fim de melhor compreender sua estrutura. Como esses habitantes não possuem residência fixa, são excluídos do Censo do IBGE. O levantamento local contabilizou, na época, 916 moradores de rua na capital. Eles eram majoritamente do sexo masculino (pelo menos 70%) e tinham entre 18 e 46 anos (76%), encontrando-se, portanto, em idade produtiva.
Exclusão ou opção?
“À medida que a faixa etária sobe, a quantidade de moradores de rua tende a decrescer”, ressalta Mariana Vilas Bôas Mendes, que em 2007 defendeu dissertação na UFMG sobre o tema, denominada “Os moradores de rua e suas trajetórias – um estudo sobre os territórios existenciais da população de rua de Belo Horizonte”.
A exclusão social desse grupo se reflete no interesse da academia em estudá-los: há pouca pesquisa sobre o tema no Brasil, observa Mariana Mendes. Além disso, assinala, “muitos dos comentários apresentados não têm como base os modos de vida por eles desenvolvidos ou mesmo as narrativas dos moradores de rua, mas sim análises macrossociais ou macroeconômicas”. Ela observa que essas pessoas não admitem deixar as ruas, ainda quando surgem oportunidades para fazê-lo. Se a sinalização de melhores condições de vida não os seduz, por que as teses correntes sustentam que esses grupos, desprovidos de cidadania, formam-se a partir de contextos socio-econômicos adversos?
Para verificar a questão, Mariana Vilas Bôas Mendes cruzou dados de desemprego com o número de moradores de ruas em grandes metrópoles, como Nova York, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Trabalhando com indicadores do ano 2000, ela verificou não haver correspondência entre percentuais de desempregados e de moradores de rua, mesmo no exterior. Conforme explica a pesquisadora, essa evidência coloca em relevo o fato de que, “embora a população de rua seja composta por pessoas desempregadas, provenientes de famílias de baixa renda e com baixa escolaridade, [esses elementos] não são suficientes para explicar a existência do contingente de pessoas que ocupam as ruas da cidade”. A complexidade do perfil do grupo parece, então, confirmar a necessidade de estudos diferenciados que permitam compreender o que a autora identifica como seus territórios existenciais.
 Aroldo Lacerda
Aroldo Lacerda
Índios na cidade
Um capítulo especial de segregação social e espacial nas grandes cidades brasileiras tem os povos indígenas como protagonistas. Empurradas para o interior do país ao longo dos séculos, muitas etnias fazem hoje percurso inverso, em direção às cidades – onde chegam a reconstruir seu modo de vida original, a exemplo de Campo Grande (MT), em cuja periferia encontra-se um loteamento do povo terena.
Realidade pouco relatada, o desaldeamento atinge, contudo, dimensões consideráveis: segundo o Censo de 2000 do IBGE, pelo menos 383 mil índios já residiam em áreas urbanas no início da década, representando 52% de sua população total. A motivação do deslocamento é ampla e comporta desde conflitos internos nas aldeias e pressão econômica pelo uso das terras até a busca por trabalho, além de serviços de educação e saúde. Mas, também, desejo de vivência urbana, ou direito de ir e vir, como qualquer outro grupo da sociedade.
A integração ou a vida desses povos no meio urbano, no entanto, ainda é marcada por desafios imensos, como a favelização, a fragilização dos laços identitários e questões de registro social, que remetem à sua condição tutelada – a carteira de identidade indígena nem sempre é aceita em bancos e serviços públicos de saúde, por exemplo. Um problema que faz toda a diferença no reconhecimento da cidadania desses brasileiros. Sua segregação encontra, por outro lado, o preconceito que confronta a legitimidade de sua identidade – relacionada à vida na natureza – com a condição de “índio urbano”. Um índio falso, pois.
Revista Diversa nº 17
Site produzido pelo Núcleo Web do Centro de Comunicação da UFMG